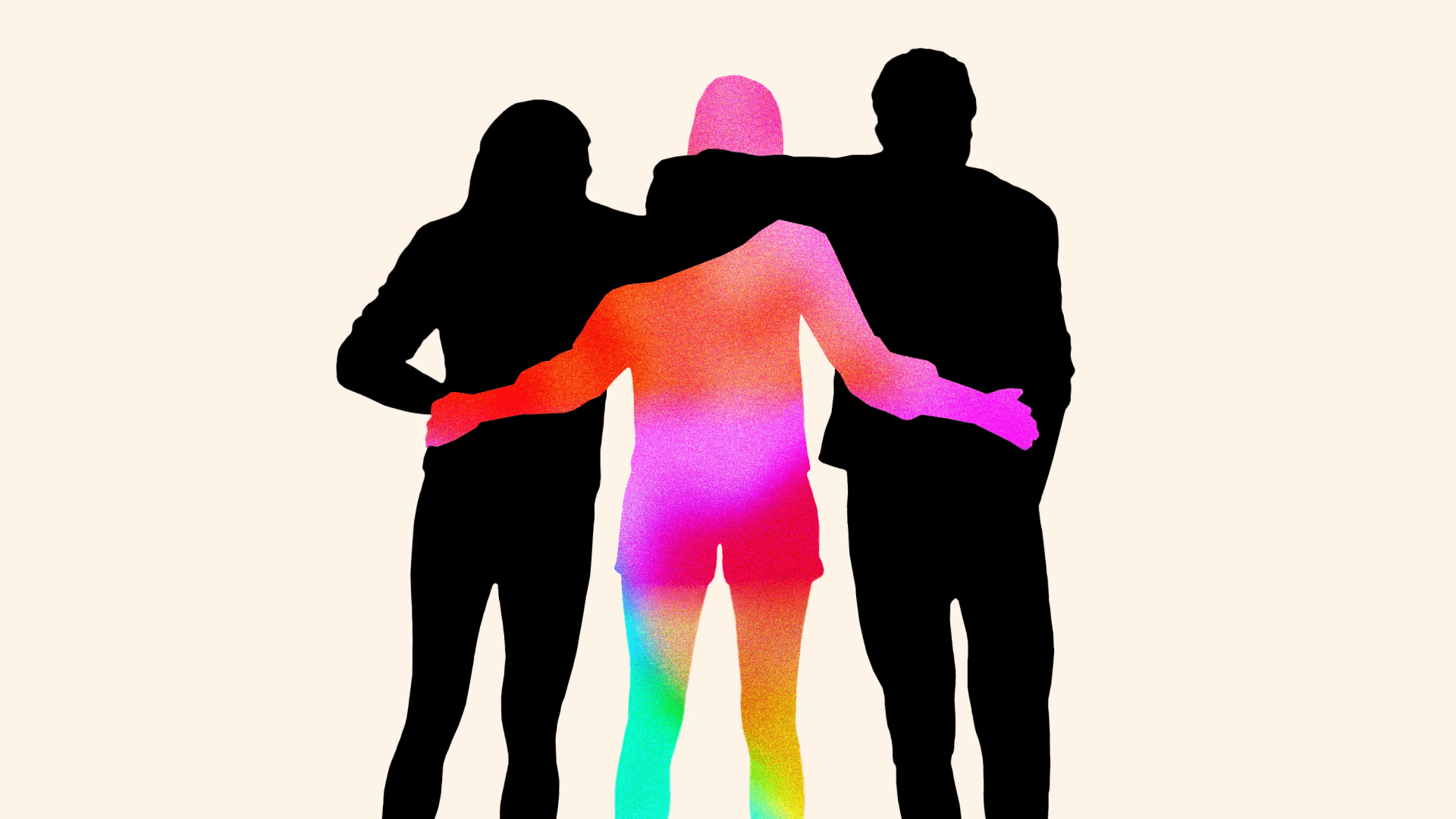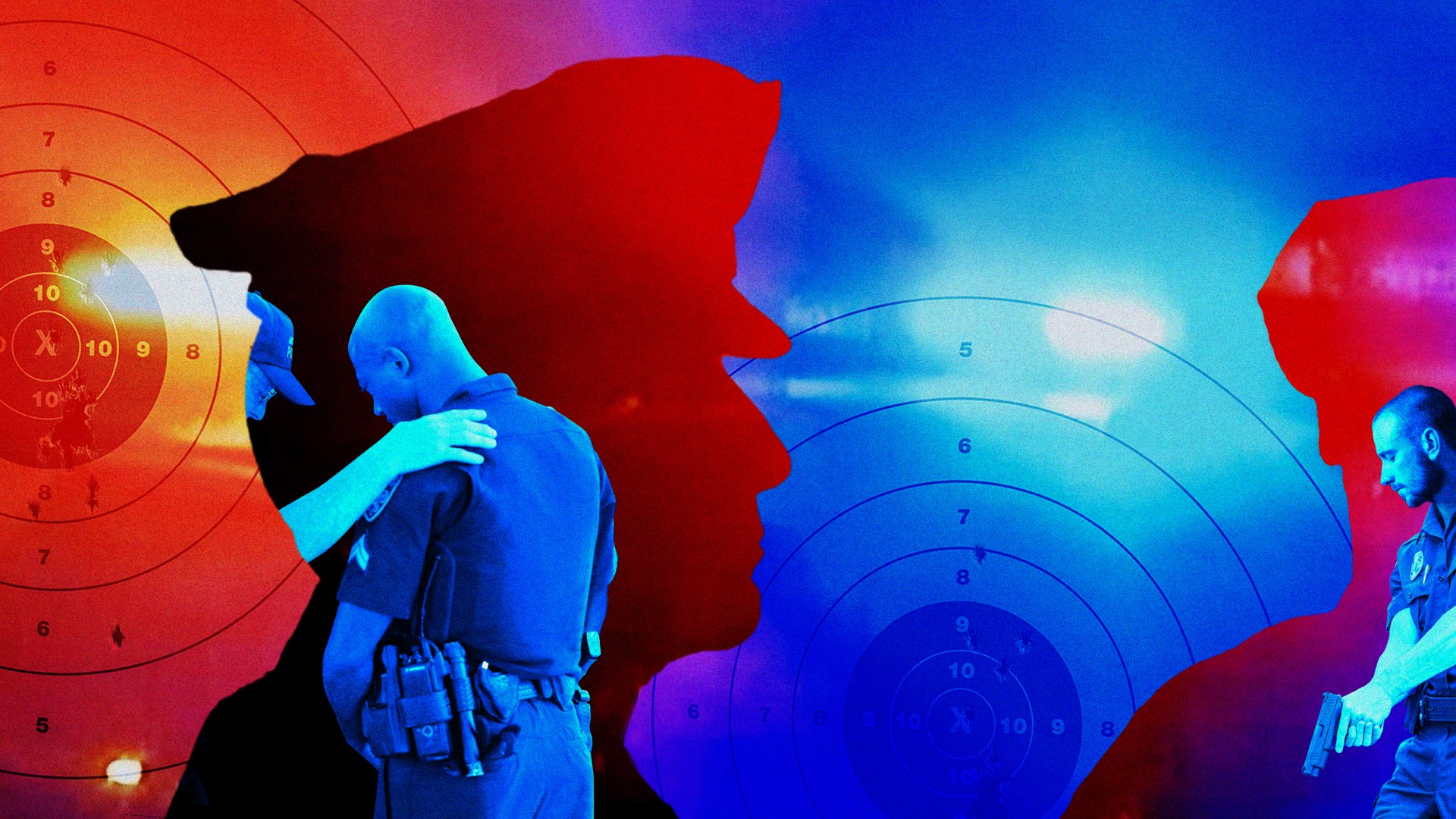A sétima audiência do comitê parlamentar que investiga a invasão do Capitólio [Congresso Estadunidense], ocorrida em 6 de janeiro de 2021, teve a violência como principal tema: quem fez aquilo; quem encorajou [a invasão]; quem sabia que estava para acontecer, mas não interveio.
“O ponto crucial é o próximo passo: o que este comitê, o que todos nós faremos para fortalecer nossa democracia contra golpes e violência política”, disse o deputado Jamie Raskin (Democrata do estado de Maryland), no final da audiência. A violência política, segundo ele, é “hoje um problema do país inteiro”.
Raskin está longe de ser o único a fazer esse alerta sobre a possibilidade de violência política — essa busca de fins políticos por meios violentos, em vez de buscá-los por meio de processos normais e pacíficos, como exercer o voto, concorrer a um cargo, fazer lobby ou protestar.
“Sabemos, por outros países que mergulharam em violência política realmente grave, que isso é um caminho, e nós estamos nele”, alertou a pesquisadora Rachel Kleinfeld, em um artigo do Washington Post. “Na verdade, estamos bem avançados [nesse caminho]”.
Kleinfeld disse que podemos notar uma crescente violência por parte de milícias de direita, bem como violência de uma “esquerda descontente”. Ela projetou um cenário ameaçador, no qual as “porcentagens de americanos que endossam a violência estão se aproximando [das porcentagens registradas] no auge do conflito na Irlanda do Norte [também conhecido em inglês como The Troubles], que aconteceu em 1973”.
(A escala desse tipo de violência política pode variar muito, e vai de um ataque individual a uma revolução, mas o conflito na Irlanda do Norte é um bom exemplo do que muitos antecipam que acontecerá nos EUA — teve “episódios de violência que foram amplamente localizados e em segundo plano”, mas a vida cotidiana seguia em frente, ainda que “todos estivessem com mais medo e deprimidos”.)
Há motivos para ser cético em relação aos resultados da pesquisa que ela provavelmente está citando como referência; por exemplo, algumas pessoas que são propensas a dizer a um pesquisador que “a violência contra o outro lado [é] ao menos um pouco aceitável” também podem estar muito longe de se dispor a realmente cometer tal violência.
Mas “a boca fala do que está cheio o coração” (Lucas 6.45). Não há como negar o ponto levantado por Kleinfeld de que a retórica política e a animosidade dos americanos [assim como de outros povos ao redor do mundo] pioraram nos últimos anos. Talvez Kleinfeld esteja certa ao dizer que “precisamos perceber que grupos paramilitares podem se tornar uma parte normal da nossa vida política”. Talvez a violência política já esteja a caminho. E os cristãos não devem se aliar a nada disso.
Você pode acreditar que isso nem precisa ser dito, mas há duas razões pelas quais acho que é algo que precisa ser explicitamente declarado.
Uma das razões se deve à reputação atual dos evangélicos americanos em grande parte da grande mídia. Especialistas e autoridades no assunto que vêm alertando sobre o risco de violência política de direita frequentemente incluem uma menção ao cristianismo, ao nacionalismo cristão e/ou a evangélicos brancos. Kleinfeld, por exemplo, argumentou que a Rússia nos dá um modelo de política baseado em uma “hierarquia branca, cristã, tradicional, muito masculina, liderada por um homem forte”, algo que é atraente para alguns da direita antidemocrática dos EUA.
A associação dessas coisas faz sentido para muitos americanos, por causa da proliferação do simbolismo cristão entre a multidão que invadiu o Capitólio, do apoio recorde que o ex-presidente Donald Trump recebeu consistentemente dos que se autodenominam evangélicos e da retórica nacionalista cristã de figuras republicanas como a deputada Marjorie Taylor Greene, da Geórgia. Se não é isso que queremos que nossos compatriotas pensem de nós [cristãos], rejeitar de forma inequívoca a violência política é um bom lugar para começar.
A segunda razão pela qual acredito que devemos deixar bem claro que cristãos não devem se aliar à violência política é que me preocupo que a concepção dos cristãos americanos do que vem a ser uma violência política aceitável seja demasiadamente moldada por nossa história e nossas crenças como americanos — e particularmente por nossa compreensão da Revolução Americana como um exemplo louvável de violência política —, mas não suficientemente moldada pelo que Jesus ensinou sobre violência, quando viveu em uma sociedade com um governo muito mais brutal do que o nosso.
Nas festividades do Quatro de Julho que acabaram que acontecer, por exemplo, considere o que estamos celebrando na Revolução. Há reclamações sérias na Declaração de Independência, mas uma preocupação proeminente era a tributação — sim, era uma tributação sem representação do povo na política [e o slogan deles era “nenhuma tributação sem representação”], mas também era baseada em taxas decrescentes que hoje acharíamos ridiculamente baixas. Essa é uma razão boa o suficiente para que cristãos matem cristãos?
Isso resume grande parte do que foi a Revolução: cristãos matando cristãos por questões políticas. E, talvez, olhando em retrospectiva, mais de dois séculos depois, nós julguemos que o saldo foi positivo. Ou, talvez, — analisando a capacidade de outras ex-colônias britânicas de conquistar sua independência sem guerra, ou mesmo comparando a história da abolição da escravidão na Inglaterra com a nossa — nós julguemos que o saldo não foi positivo.
Eu poderia ficar dando voltas sobre o assunto, mas não consigo dizer que era certo que cristãos matassem outros cristãos por causa de impostos. Não consigo, porque não consigo conciliar isso com o que Jesus disse sobre a violência, especialmente no Sermão da Montanha:
Vocês ouviram o que foi dito: ‘Olho por olho e dente por dente’. Mas eu lhes digo: Não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. […] Vocês ouviram o que foi dito: ‘Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo’. Mas eu lhes digo: Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. (Mateus 5.38-41, 43-45)
Os cristãos vêm debatendo as implicações desses versículos e de outros semelhantes (João 18.36; Romanos 12.17-21; Efésios 6.12) há milênios, e sei que minha convicção de que Jesus aqui está nos chamando para a não violência não é consenso universal entre fiéis seguidores de Cristo.
Por muito tempo, eu mesmo também não compartilhava dessa convicção. Eu acreditava que a interpretação pacifista era muito estranha, dura e impraticável. Com o passar do tempo, no entanto, concluí que Jesus já havia falado de forma bem clara; simplesmente era uma ordem que eu não queria ouvir. E uma percepção importante, conforme mudei meu pensamento, foi que o contexto em que Jesus estava falando era um contexto político violento.
Usamos expressões como “dar a outra face” e “andar mais uma milha” de forma metafórica, para descrever conflitos interpessoais. Jesus as usou literalmente, quando estava falando para uma audiência que corria um risco real de sofrer abuso físico pelo poder dominante — e que, na verdade, era um governo que não lhes oferecia nenhuma das formas de expressão política pacífica que hoje temos à nossa disposição.
Há muita coisa errada em nosso governo e em nossa política, mas, por padrões globais e históricos, desfrutamos de uma governança notavelmente livre, funcional e democrática. Se Jesus disse a seus ouvintes originais para evitarem a violência em favor de um comportamento pacífico, de um comportamento surpreendente e potencialmente autossacrificial, quão mais esse ordem não deveria se aplicar a nós?
À luz disso tudo, mesmo que a sua interpretação desses versículos seja diferente da minha, talvez você consiga enxergar a lacuna que há entre o que a Revolução Americana diz sobre a violência política e o que Jesus diz sobre ela. E se não conseguimos enxergar essa lacuna, ou se nos encontramos criando cenários nos quais seria justificável praticar violência por motivações políticas — prejudicando nossos próximos e odiando nossos inimigos, porque não conseguimos eleger o presidente ou a política que queríamos —, talvez nossas mentes tenham se conformado mais com a Revolução do que com a mente de Cristo (Romanos 12.2; 1Coríntios 2.14-16).
Talvez a violência política esteja de fato chegando à América, mas isso não deveria acontecer por meio de mãos cristãs.
–