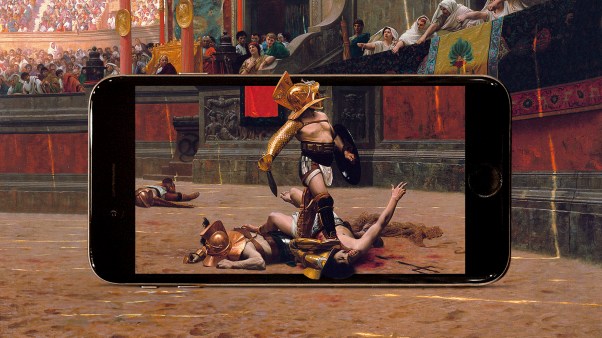“Se o ‘nacionalismo cristão’ é algo a se temer, eles estão mentindo para você”, disse a deputada Marjorie Taylor Greene (do Partido Republicano pelo estado da Geórgia) a seus apoiadores, em junho. “E eles estão mentindo para você de propósito, porque essa é exatamente a mudança de temperatura que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, e eles não podem controlá-la.”
The Religion of American Greatness: What’s Wrong with Christian Nationalism
InterVarsity Press
304 pages
$17.08
Uma vez que o nacionalismo cristão triunfe, “ele acabará com os tiroteios nas escolas”, afirmou Greene. Isso reduzirá as taxas de criminalidade, porá um fim na “imoralidade sexual” , protegerá a inocência das crianças e as instruirá a desejarem um estilo de vida tradicional. E é esse movimento saudável de “cristãos e […] pessoas que amam seu país e querem cuidar dele” que os “mentirosos” na mídia estão ridicularizando.
Greene está certa em dois pontos: o nacionalismo cristão está cada vez mais visível na política americana [e também na de outros países, como o Brasil], e o movimento tem sido muito discutido na imprensa nos últimos dois anos, particularmente desde que os jornalistas começaram a analisar os símbolos cristãos e a linguagem cristã usados na tomada do Capitólio, em 6 de janeiro de 2021.
O restante do discurso de Greene deixa mais a desejar, embora sua ênfase na dominação cultural, no poder político e na proteção da própria tribo — tudo isso disfarçado sob um frágil verniz de cristianismo — soará familiar para qualquer leitor da obra The religion of American greatness: what’s wrong with Christian nationalism, de Paul D. Miller.
Miller é uma pessoa adequada para explicar por que o nacionalismo cristão, embora não seja “algo a se temer”, é certamente algo que os cristãos devem rejeitar. Ele é um veterano do Exército dos EUA, da CIA e do governo de George W. Bush — ou seja, alguém que conhece bem os ambientes patrióticos. Também é um estudioso, e atualmente trabalha como professor de relações internacionais na prestigiosa School of Foreign Service da Universidade de Georgetown, além de ser um evangélico de viés evangelical — conservador do ponto de vista teológico, que foi batizado em um rio, participou de uma cruzada de Billy Graham e tem uma especial predileção por Chick-fil-A [rede norte-americana de fast-food reconhecidamente cristã].
A deputada Greene retratou as críticas ao nacionalismo cristão como enganação ou inveja do poder crescente dos nacionalistas, mas a obra de Miller — The Religion of American Greatness — não é nem uma coisa, nem outra. Miller é implacável em sua avaliação do movimento, embora simpatize com sua base de adeptos. Ele produziu um recurso útil para seu público principal, composto por evangélicos instruídos — pastores, líderes de igreja, jornalistas, acadêmicos e “outros profissionais cristãos” — pessoas a quem ele imagina usando essa obra para interagirem de forma produtiva com seus congregados, seguidores e entes queridos. Quanto a esse objetivo principal, The religion of American greatness é uma obra eficaz e convincente, embora o argumento de Miller em favor de uma religião civil patriótica e do republicanismo cristão como alternativa ao nacionalismo não seja tão convincente nem bem desenvolvido.
Uma defesa contrária ao nacionalismo cristão
“O casamento do cristianismo com o nacionalismo americano”, pergunta Miller, “ é uma excentricidade perdoável sobre uma questão doutrinária sem importância, um adorável excesso de patriotismo e piedade?” Será que se trata, como diz Greene, simplesmente de cristãos e “pessoas que amam seu país e querem cuidar dele”?
“O ônus deste livro”, escreve Miller, é demonstrar que o nacionalismo cristão não é algo inócuo. É “mostrar que o nacionalismo é incoerente na teoria, iliberal na prática e, segundo temo, muitas vezes idólatra em nossos corações”. E, com relação a esses três objetivos, Miller consegue provar habilmente aquilo que afirma.
O livro começa com definições e com o autor usando a tática de advogado do diabo, investigando a natureza do nacionalismo em geral e sua variante cristã, americana e (em geral) especificamente composta por brancos. “O nacionalismo cristão não é um termo que abrange qualquer tipo de ativismo político cristão”, Miller tem o cuidado de observar. “A característica única do nacionalismo cristão é que ele define a América [ou qualquer outro país] como uma nação cristã e quer que o governo promova um modelo cultural anglo-protestante específico como a cultura oficial do país.” Para ser justo, Miller apresenta a defesa do nacionalismo cristão por meio de seus principais pensadores americanos e britânicos, entre eles Rich Lowry, da National Review, R. R. Reno, da First Things (leia aqui a crítica, em inglês, da CT ao livro de R.R. Reno), e Samuel Huntington, o falecido estudioso e autor de “O choque de civilizações”.
Esta investigação de um “tipo ideal” de nacionalismo cristão, conforme articulado por seus defensores mais sérios, será útil para os leitores que desejam ser capazes de “construir uma argumentação consistente” em relação ao movimento, identificar sua influência no embate político e articular por que esse tipo ideal e o cristianismo são, nas palavras de Miller, “religiões distintas, rivais, mutuamente excludentes. Elas fazem reivindicações fundamentalmente incomensuráveis sobre a lealdade humana. Segundo esse tipo ideal, você pode ser um nacionalista cristão ou pode ser um cristão: não pode ser as duas coisas”.
No entanto, como Miller reconhece, a maioria dos nacionalistas cristãos na América não são do tipo ideal. A disputa por sua lealdade última é algo muito mais confuso. Seu nacionalismo é primordialmente um sentimento, “um vínculo intenso e profundo […[ entre igreja e nação que é experienciado de forma muito mais visceral do que intelectual ou teológica”, e o mais provável é que sua política seja “uma mistura inconsistente de nacionalismo, conservadorismo, cristianismo, republicanismo, libertarismo e muito mais”.
Para entender essa variante popular do nacionalismo cristão, os capítulos finais da obra de Miller sobre a direita religiosa e a interação do nacionalismo com as Escrituras talvez sejam os mais importantes do livro. Eles também são os mais ardentes e fascinantes, principalmente para leitores como eu, que se depararam com o nacionalismo cristão por anos sem saber nomeá-lo. Ler esta seção foi como rejuntar azulejos: eu tinha as peças maiores, e o livro preencheu tantas lacunas — resgatando o uso histórico de versículos-chave da Bíblia na política americana; descrevendo a divisão da elite de base do evangelicalismo dos EUA; criticando os movimentos hermenêuticos que apoiam a teologia dos Estados Unidos como Israel; e caracterizando a subcultura jacksoniana do nosso país.
Mas talvez o argumento mais forte de Miller, que perpassa grande parte do livro, seja sua afirmação de que o nacionalismo cristão é, na verdade, uma ideologia secular. Os pensadores que ele analisa falam de “protestantismo sem Deus” e da adequação do “monoteísmo ecumênico da América” como o suporte moral de seu projeto político-cultural. Seu interesse está nas “normas, valores e hábitos herdados do legado cristão da América” mais do que em uma fé cristã viva. Para o nacionalista cristão, portanto, o “ponto principal da santificação” torna-se salvaguardar a nação, e não “honrar a Deus, imitando seu caráter”. E a nação, por sua vez, torna-se o objeto de adoração do nacionalista. Embora a massa de nacionalistas cristãos possa não acreditar que corre o risco dessa idolatria, “um pouco de fermento leveda a massa toda” (Gálatas 5.9).
Se não o nacionalismo cristão, o que, então?
Logo no início, Miller diz esperar que este seja o primeiro livro de uma trilogia sobre nacionalismo cristão, progressismo e republicanismo cristão patriótico. Apesar desses planos, ele começa sua apologia em prol do patriotismo e do republicanismo como alternativa ao nacionalismo já nessa primeira obra. Infelizmente — e talvez porque isso requeira um tratamento extenso como o de um livro — esta parte é mais fraca do que o restante da obra. Destaco três pontos.
Primeiro, a linha que Miller traça entre a concepção de patriotismo (bom) e de nacionalismo (ruim) não é clara. A certa altura, ele diz que a diferença entre o engajamento político cristão adequado e o nacionalismo cristão “pode ser sutil”, talvez até externamente indistinguível, pois a diferença é “uma questão de nossa própria motivação interna”. Nesse sentido, Miller põe no mesmo patamar a rejeição ao nacionalismo cristão e uma concepção persistente dos Estados Unidos como nação. Por exemplo, ele argumenta que varrer para debaixo do tapete figuras históricas complicadas como Thomas Jefferson “é o mesmo que dizer que não há uma história de grandes feitos que nos une, nenhuma história compartilhada e, portanto, nenhuma nação” (ênfase minha).
É possível que Miller seja simplesmente impreciso em sua linguagem, usando “nação” como sinônimo de “país”, em vez de se ater à definição inicial de “nação”como um termo nacionalista, e, se for mesmo esse o caso, trata-se de um equívoco de edição, e não de pensamento. Mas Miller também promove a religião civil patriótica — não apenas uma adesão a valores como liberdade e justiça, mas a rituais culturais para “evocar lealdade emocional ao nosso país” como “o patriotismo do passado no 4 de julho”. E ele faz isso ao mesmo tempo em que condena a sacralização do secular e nega que “o governo dos EUA seja competente para sustentar, criar ou orquestrar um modelo cultural nacional comum para uma nação de 320 milhões de pessoas”.
Miller afirma que precisamos dessa religião civil porque “não podemos viver sem algum tipo de identidade de grupo”; porque “as pessoas devem ter algo para se orgulhar [e] se negarmos a elas a capacidade de se orgulhar de sua nação, elas simplesmente mudarão o locus de sua lealdade para um subgrupo, como seu grupo étnico ou racial”; e porque “não podemos prescindir de histórias nacionais. […] Para vencer o nacionalismo, precisamos contar uma história melhor.”
Mas o que Miller não responde é por que, em um livro voltado principalmente para cristãos, essa história não é o evangelho. Por que a solução é “uma história política” — e, se deve ser política, por que esta política deve assumir escala nacional? Por que nossa identidade de grupo não é a igreja? Por que não podemos combater o nacionalismo com lealdade às nossas congregações ou bairros? Por que o patriotismo nacional é o antídoto escolhido?
Em segundo lugar, Miller faz uma argumentação convincente de que há uma relação inexorável entre nacionalismo, política identitária e guerra cultural. “Nacionalismo”, escreve ele, “é a política identitária da tribo majoritária; política identitária é o nacionalismo de pequenos grupos. Em cada caso, grupos de pessoas que se definem por algum traço identitário comum olham para a praça pública em sua busca por status, espólios, reconhecimento e poder”. Esses grupos desembocam em uma espiral crescente de guerra cultural, à medida que cada um procura determinar quem “nós” somos, em que “nós” acreditamos e o que fazemos. Em contraste, Miller argumenta que, em um modelo republicano de política, o Estado deve eliminar esses espólios de guerra, engajando-se na “neutralidade cultural”, não na “neutralidade moral e no secularismo patrocinado pelo Estado”.
Mas, ao distinguir entre os tipos de neutralidade, Miller deixa em campo as maiores batalhas da guerra cultural. Fundamentando sua distinção em uma alegação do direito natural — que dificilmente convencerá aqueles que ainda não estejam convencidos dos méritos dessa teoria — ele diz que o Estado não pode ser neutro em relação à “pessoa humana e à sexualidade humana”, e que aqui, “a praça pública é um 'campo de batalha dos deuses', no qual não podemos fazer nada senão defender nossas próprias crenças fundamentais”. Mas certamente para muitos nacionalistas cristãos de hoje, essas questões são o jogo inteiro. Esses cortes “limitados” da neutralidade cultural são exatamente os assuntos que motivam os nacionalistas cristãos a buscarem o poder do Estado para ditarem a cultura nacional.
Por fim, embora ele trate em detalhes o iliberalismo do nacionalismo cristão, não tenho certeza se Miller percebe sua extensão atual — e o que isso significa para a perspectiva de fazer os nacionalistas mudarem para um republicanismo cristão classicamente liberal. Terminando o capítulo sobre “O Iliberalismo da Direita Cristã”, ele escreve:
O que é mais importante: as instituições republicanas ou a cultura cristã? Ter uma sociedade livre e aberta, ou ter símbolos públicos de respeito ao cristianismo? Princípios cristãos ou poder cristão? Liberdade política ou vitória política? Os nacionalistas cristãos rejeitariam o enquadramento dessas questões, [que consideram] como uma falsa escolha, pois dizem que os dois lados devem andar juntos, enquanto os republicanos cristãos ficariam muito mais à vontade defendendo o republicanismo, com ou sem uma cultura cristianizada.
A noção de que os nacionalistas cristãos veriam isso como uma falsa escolha pode ser verdadeira entre alguns adeptos do “tipo ideal”; no nível popular, porém, suspeito que, diante dessas opções, muitos nacionalistas cristãos simplesmente escolheriam a vitória e o respeito público. Considere como abraçaram o governo iliberal na Hungria — ou lembre-se da expectativa de Greene de que um triunfo político para o nacionalismo cristão mudaria o comportamento sexual dos americanos e reformularia os planos das crianças para suas vidas.
Os nacionalistas cristãos americanos [ou não] gostam de falar sobre “liberdade”, mas não acho que haja muito dilema para eles nesse ponto, o que significa que estão mais distantes do republicanismo do que Miller possa esperar. Essa é uma pequena falha em seu argumento, mas faço uma grande recomendação de seu livro.
Bonnie Kristian é escritora e colunista da CT. Ela é autora de um livro em vias de ser publicado, Untrustworthy: The Knowledge Crisis Breaking Our Brains, Polluting Our Politics, and Corrupting Christian Community .
Traduzido por Mariana Albuquerque
Editado por Marisa Lopes
–