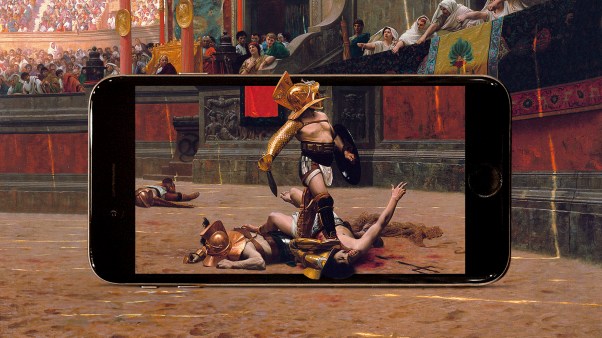A visão de um avião voando bem acima de mim costumava fazer meus olhos brilharem com um ar sonhador. Naquela época, eu havia largado a faculdade, pesava pouco mais de 23 quilos, depois que anos de anorexia me reduziram a pouco mais do que órgãos e pele.
Sempre que ouvia os aviões passando, eu olhava para o céu e imaginava as pessoas lá em cima, ocupadas vivendo a vida, provavelmente voando para importantes reuniões de negócios e conferências em Hong Kong ou Los Angeles, ou fazendo quaisquer outras coisas importantes que fazem as pessoas que não estão morrendo de algum transtorno alimentar. E eu ficava ali parada, agarrando-me àquela dor visceral no meu peito, lembrando dos dias em que sonhava em me tornar uma jornalista que viajaria pelo mundo afora.
E, vinte anos depois, é justamente isso que faço. Escrevo longas histórias sobre várias partes do mundo. Hoje sou aquela pessoa ocupada que está num avião, voando para participar de reuniões e conferências. Já andei a cavalo nas selvas da Birmânia para fazer uma matéria sobre uma organização de ajuda humanitária nada convencional; voei em um avião de dois passageiros sobre os reinos de gelo do remoto Alasca, para fazer uma reportagem sobre os nativos da região; passei por girafas e gazelas que pastavam em campo aberto, enquanto fazia reportagens sobre missões para imigrantes chineses no Quênia.
Finalmente estou vivendo o sonho que me parecia uma fantasia há 20 anos, na época em que perdi todo o propósito e o sentido da vida. Hoje, porém, grávida do meu segundo filho, estou desistindo desse sonho para ser uma mãe que fica em casa em tempo integral, sabe-se lá por quanto tempo — e não estou nada bem com isso.
Eu sei o quanto sou incrivelmente privilegiada por ter a opção de não trabalhar. Também sei que é uma bênção ter filhos, quando tantas mulheres lutam contra questões como infertilidade e aborto espontâneo. Por isso, é com uma certa vergonha que confesso: estou apavorada com essa transição de mãe que trabalha fora para mãe que só fica em casa.
Acalentei por tanto tempo esse sonho de fazer o que faço hoje, e trabalhei tanto para chegar até aqui, que desistir disso agora me dá a impressão de que o tempo parou de repente, quando eu estava bem no meio de uma cambalhota da minha coreografia de ginástica, e fiquei congelada, como um corpo preso em uma espiral rígida no ar, sempre caindo, mas nunca aterrissando.
Quando compartilhei essa dificuldade que estou sentindo com meu grupo de discipulado, nossa líder — uma mulher com três filhos adultos, que desistiu de uma possível carreira de enfermeira para ser mãe em tempo integral — estalou a língua e disse: “Eu sei qual é o problema. Você é a típica mulher moderna.”
Ela está certa. Eu sou de fato um estereótipo da mulher moderna que se irrita com os estereótipos dos papéis de gênero. Eu professo meu apoio às mulheres que lutam por seus sonhos, quer seja como engenheira, piloto ou dona de casa — mas, verdade seja dita, até recentemente, eu não conseguia entender as mulheres que escolhiam a maternidade como vocação.
Ser mãe nunca foi meu sonho. Nunca me convenci com o dito popular de que as mulheres podem fazer tudo. A matemática não fazia sentido: você não pode dar 100% para sua carreira e outros 100% para a maternidade. Eu escolhi a carreira, obviamente; não achei que tinha um pingo sequer de instinto maternal. Mesmo o bebê mais gordinho e rosado nunca me fez pensar o contrário. Por que eu iria querer levar um desses para casa?
A conversa sobre feminilidade e maternidade muitas vezes parece acabar em cansativas guerras culturais em torno de metafóras, e não de mulheres de verdade: um dos lados declara que a mulher é livre para fazer o que quiser, para seguir o próprio coração (mesmo sabendo que temos corações tão voláteis, imprevisíveis e inconsistentes quanto o do meu filho pequeno).
O outro lado diz que mulheres como eu engoliram as “mentiras diabólicas” sobre a feminilidade. Diz que a vocação mais elevada ou maior de uma mulher é ser esposa e mãe. Diz que o movimento feminista enganou as mulheres, fazendo-as acreditar que uma carreira pode nos realizar e que ser dona de casa é algo sem graça e sufocante.
É bem verdade que a sociedade não valoriza o suficiente as donas de casa, o que pode fazer com que as mulheres que optam por ficar em casa se sintam menosprezadas e diminuídas. Isso explica a ascensão das “esposas tradicionais”, um fenômeno de mídia social em que as mulheres se recusam a se desculpar por seus aventais e, em vez disso, reivindicam para si, com orgulho, os valores “tradicionais” da feminilidade, que elas interpretam como ficar em casa para cozinhar, limpar e cuidar da família, algo que muitas vezes é retratado por meio de filtros vintage, usados para uma estética atraente.
Nenhum dos dois lados me convence. E esse não é o tipo de conversa que tenho com outras mulheres que lutam para se sentirem realizadas na maternidade ou na carreira.
Sim, suponho que sou essa “típica mulher moderna”. Mas há algo mais. Há aquelas horas deliciosas que passei, na infância, enchendo meu diário com ideias e histórias não eram brados feministas, mas sim uma expressão inata de um Deus criativo, que abençoou homens e mulheres para criarem e cultivarem. Eu não ia trabalhar animada com a perspectiva de derrubar o patriarcado ou conquistar riqueza ou status social. Eu trabalhava porque amava meu trabalho.
Mas, então, isso mudou. Nosso filho, que já estava crescendo em meu útero por meses antes que eu finalmente o notasse, começou a chutar. E antes que eu me sentisse pronta para ser mãe, dois anos atrás, ele nasceu com seu choro indignado.
Graças aos benefícios da licença-maternidade remunerada do estado da Califórnia, pude tirar quatro meses de licença. Os 122 dias cuidando do meu filho em tempo integral se transformaram em um torpor confuso, marcado por poucas horas de sono e impregnado dos aromas enjoativos do adocicado leite materno e de arrotos azedos. Eu não sabia mais dizer quando o sol nascia e quando se punha.
Mas eu também nunca senti tamanha ternura na vida. O amor que floresceu dentro de mim não era como uma flor de lua de mel, fresca e cheia de vida em uma estação, murcha e desbotada na próxima. Ele simplesmente continuou crescendo, como uma hera encantada em uma dança perene e exuberante. Observei esse amor que brotava com admiração e curiosidade jornalística: meu corpo realmente tinha gerado essa criaturinha mágica? Como um bebê tão enrugado e amassado podia parecer tão doce e encantador aos meus olhos?
Eu não conseguia mais imaginar minha vida sem nosso filho, não conseguia imaginar como um dia eu pude desejar uma vida sem ele. E, ainda assim, eu também ficava tremendamente entediada. Mal podia esperar para voltar ao trabalho. No meu primeiro dia de volta da licença-maternidade, tirei o pó da minha mesa e me sentei, com uma xícara de café fumegante — morna jamais —, e senti como se tivesse ganhado umas férias de presente. Eu me sentia como alguém que tinha sido libertado, de muitas maneiras. Meu intelecto, fora de forma pelos tempos de negligência, agora podia voltar a explorar outras coisas além de momentos segurando o bebê de barriga para baixo e os intervalos entre uma soneca e outra dele.
Mas também voltei uma pessoa diferente. Eu me sentia mais velha, mais irritada, mais lenta. Minha criatividade estava pesada e congestionada como um resfriado persistente. Eu estava sem foco, com todos os meus sentidos superestimulados por uma criança ávida por comida, toque, atenção — ávida por tudo e muito mais do que eu tinha para dar.
Viagens para fazer alguma reportagem se tornaram uma correria logística para tirar e etiquetar um freezer de leite materno, preparar duas semanas de refeições saudáveis, pagar a babá pelas horas extras e, às vezes, trazer os avós de avião do outro lado do país para me ajudar com o bebê.
Descobrir uma maneira de administrar meu estoque de leite materno era estressante. Certa vez, fiquei presa no banco de trás, entre dois homens adultos, em um caminhão à prova de balas, durante uma viagem de 10 horas pelos campos da Ucrânia devastada pela guerra. Paramos para um almoço rápido e corri para o banheiro, tentando freneticamente tirar leite manualmente na pia.
Isso afetou meu casamento. Ver o rosto exausto e abatido do meu marido, durante nossas videochamadas, quando eu estava trabalhando no exterior, me fez sentir culpada e irritada. Quando voltava para casa, cansada da viagem, meu marido me recebia com o alívio de alguém que está se afogando e avista uma jangada e, então, rema loucamente para escapar do afogamento, me deixando nas águas turbulentas para compensar a minha folga da maternidade.
Eu amo nosso filho intensamente, profundamente. Mas não acho a maternidade gratificante; ainda assim, o trabalho também não me parece mais gratificante. Talvez nunca tenha sido, porque, mesmo antes de me tornar mãe, lembro que eu passava cada aniversário me sentindo ansiosa por mais um ano que passara, meus 20 anos caminhando para os 30 e tantos, enquanto eu me sentia tão faminta quanto tinha estado na época da anorexia, com um buraco de insatisfação por eu não estar tão realizada ou ter tanta influência quanto queria.
Essa preocupação com a realização pessoal é um problema tão de primeiro mundo, tão típico do século 21! É algo que ouvimos com frequência: Meu casamento é gratificante? Minha carreira é gratificante? Minhas amizades são gratificantes? Na época [em que lutava contra a anorexia] em que eu não tinha nada além de ossos, o que faço hoje me parecia o céu, as estrelas, a galáxia, o universo inteiro.
Hoje, tenho as estrelas e a galáxia — além do presente inesperado e não solicitado da maternidade —, e ainda não me parece o suficiente.
Se a resposta para isso é que o feminismo contemporâneo fez uma lavagem cerebral em mim e que só o que eu preciso é recuperar o “verdadeiro” significado da feminilidade, então, isso é apenas amontoar vergonha sobre vergonha e me enganar, ao me levar de uma falsa ilusão para outra. Já vi muitas mães que ficam em casa em tempo integral compararem seus filhos e sua criação com os de outras pessoas, e depois afundarem em uma crise de identidade, quando seus filhos não estão bem ou quando vão para a faculdade.
Este não é um problema da mulher, é um problema do ser humano.
A maioria dos homens parece ter os dois mundos: a paternidade e a carreira. Ninguém os critica por perseguirem suas ambições, e todos os elogiam por levarem os filhos para brincar no parque. Também não ouvimos tantos homens falando sobre sacrificar a carreira pela família, e isso é uma pena. Conheço um homem que estava sempre ocupado demais construindo sua empresa que nem pensava em se casar, e agora, quase na casa dos 50 anos, já rico e bem-sucedido, ele está namorando mulheres de 20 e poucos anos porque quer muito ter filhos. Teria sido bom se ele tivesse pensado mais cedo sobre os sacrifícios que faria para perseguir suas ambições.
Muito do que desejo é bom. Fui feita à imagem de um Criador. Fui feita para criar, o que inclui gerar filhos, mas não apenas filhos; além disso, o trabalho e a maternidade nunca tiveram o papel de me satisfazer. Antes mesmo que os seres humanos começassem a procriar ou a cultivar coisas, Deus já se comprazia neles e dizia que eram “muito bons”, simplesmente por serem [quem são]. Deus criou uma humanidade que já se satifaz nele. A fecundidade e o domínio são uma bênção, um bônus adicional.
É assim que a Bíblia começa, em Gênesis 1 e 2. O problema é que eu estou presa na repetição da história de Gênesis 3, como num círculo vicioso.
Eu estava me sentindo insegura, exausta e insatisfeita quando reli Gênesis 3 recentemente. Deus abriu meus olhos e eu me enxerguei. Vi a Serpente distorcer a Palavra de Deus, distorcer o caráter de Deus e plantar dúvida e tentação em minha mente: Deus é realmente bom? Estou realmente contente? Eu me vi em pé, cercada de todos os frutos que eu poderia comer no jardim, mas, no entanto, fixando meu olhar no único fruto que Deus proibira. O jardim, com toda a sua abundância transbordante e que se reabastece, não era suficiente para mim. Deus não era suficiente. Eu queria aquele fruto.
É o pecado do orgulho. É o orgulho que gera essas expectativas cada vez maiores em mim, orgulho que mede meu valor por aquilo que produzo. Mas nunca estarei satisfeita, porque sei muito bem o quanto estou aquém, quantas pessoas são melhores do que eu, e, então, sinto a vergonha e o medo de ser exposta, descoberta. Posso não estar mais me matando de fome [por causa da anorexia], mas a mesma mistura tóxica de orgulho e vergonha que se transformou em um transtorno alimentar ainda corre em minhas veias.
Gênesis 3 não é uma história de muito tempo atrás. É a realidade atual. É o motor que move este mundo, que me move.
Quando meu segundo filho nascer, vou me concentrar na maternidade por um tempo indefinido, porque Deus me chamou para ser fiel a esta fase da minha vida. Vou repetir os ciclos de amamentar, balançar e fazer arrotar, e isso vai me parecer maçante e monótono.
Vou tentar ser fiel, mas provavelmente vou me sentir ressentida. Minhas costas vão doer e meu cérebro vai ranger. Lutarei contra todo desejo de não ficar impaciente com meu filho pequeno e meu marido, e às vezes vou perder essa luta. Ficarei entediada. Não sentirei que é o suficiente e desejarei buscar realização em algo mais — até eu me lembrar do jardim, e me lebrar que Gênesis 3 não é o fim da história.
Há uma graça cheia de frescor neste tempo que se aproxima. Talvez eu não devesse achar injusto que as mulheres tenham a tendência de lutar mais com os sacrifícios da carreira e da maternidade. Talvez isso seja uma bênção, porque essa transição de mãe que trabalha fora para mãe que fica em casa em tempo integral vai me cutucar e me esticar em pontos sensíveis e doloridos, me tirando do meu sistema habitual de funcionamento, para que eu reflita e troque velhos padrões de pensamento por novos.
E não há nada de maçante nem de monótono nisso.
Sophia Lee é redatora global da Christianity Today.
–