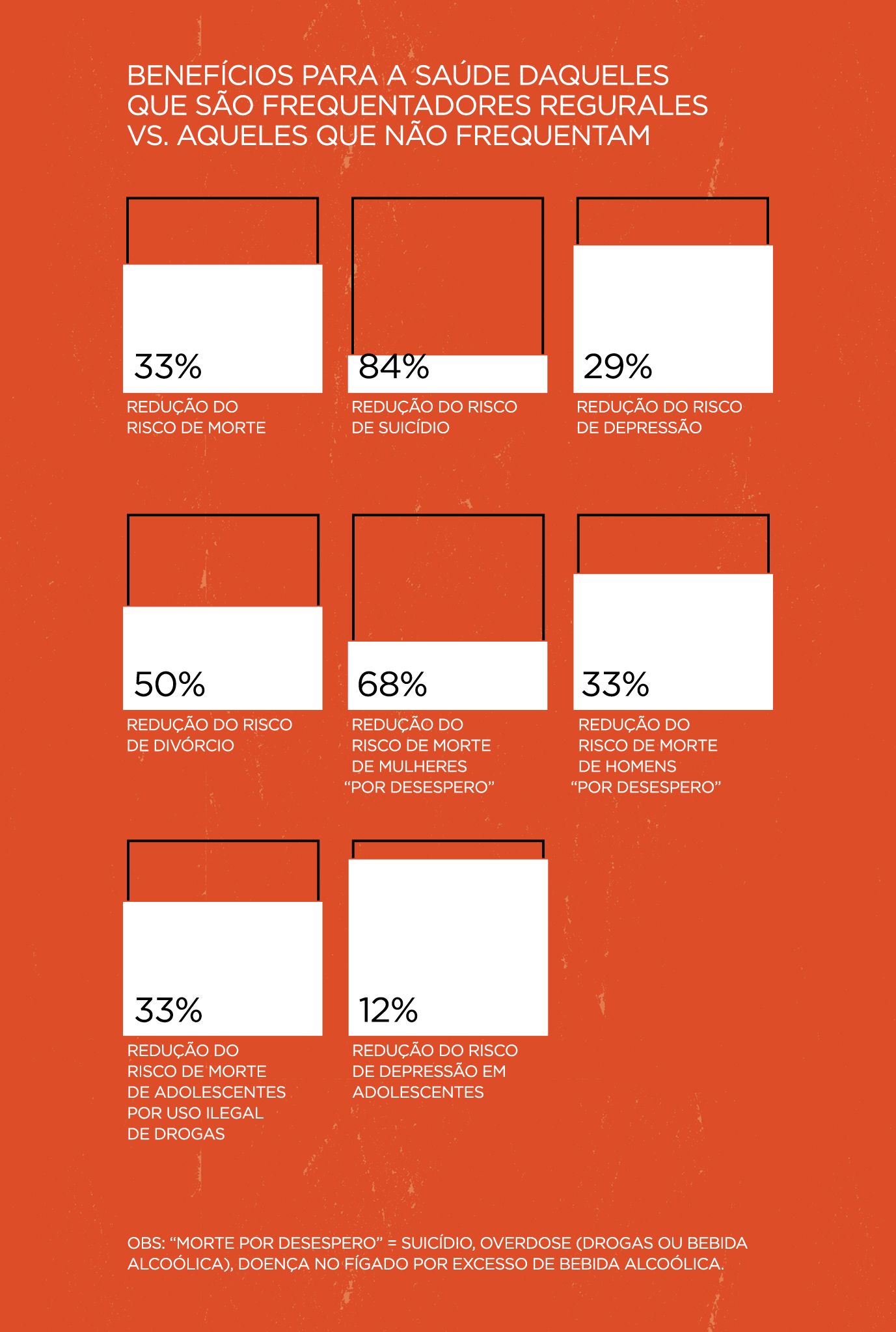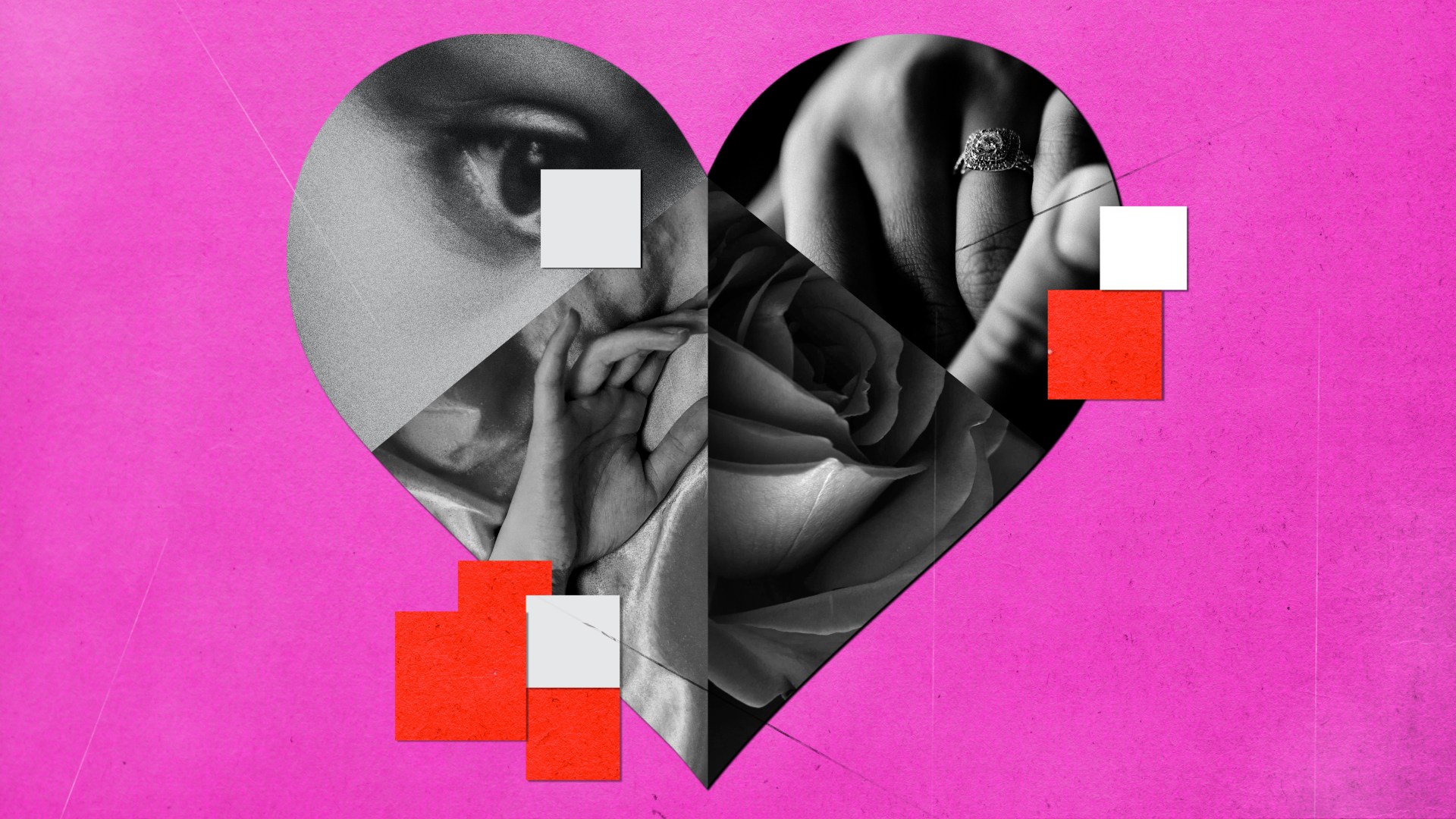Há alguns anos, um amigo católico romano lamentou comigo que ele teve de ir a uma igreja evangélica para ouvir “bons e velhos hinos sobre o sangue de Cristo”. Ele achava inconcebível que uma igreja estruturada em torno da presença real do corpo e do sangue de Cristo na missa fosse tão relutante em cantar sobre o sangue de Cristo.
Ele compartilhou, porém, que estava ficando cada vez mais difícil ouvir músicas que falam do sangue de Cristo, até mesmo nas igrejas evangélicas. “As igrejas de vocês onde se acha pouco sofisticado cantar sobre ser lavado no sangue [de Cristo] alcançam sucesso suficiente; então, elas optam por canções mais espirituais e abstratas”, disse ele. “Mas quando encontramos evangélicos pobres e feridos, é aí que se ouve: poder, poder, poder que opera maravilhas no sangue do Cordeiro”.
Ele disse ainda: “Eu sei que todos vocês desejam alcançar pessoas para Cristo — mas, tenho a impressão que, quando têm de optar entre conforto e sangue, muitos de vocês estão fazendo a escolha errada”.
Sempre lembro dessa conversa quando penso em como muitos de nós estamos alarmados com algo às vezes chamado de nacionalismo cristão — seja em sua tendência mais comum e menos virulenta de religião civil do tipo “Deus e o país”, ou nas formas mais explícitas e aterrorizantes, em que temos visto símbolos cristãos serem cooptados por movimentos etnocêntricos ou nacionalistas demagógicos e autoritários.
Sim, isso degrada a credibilidade e o testemunho da igreja. Concede uma legitimidade que é delegada àquilo que a própria Bíblia denuncia, e transforma a igreja em uma serva cativa do que só pode ser chamado de ídolo. O que costumamos deixar escapar, porém, é que o que esses movimentos nacionalistas oferecem em troca é sangue.
Há uma razão pela qual vemos a igreja americana dividida por julgamentos de heresia que ressurgiram. É bem menos provável que essas inquisições tratem de questões essenciais da doutrina cristã — como a Trindade, o nascimento virginal ou a ressurreição corporal — do que sobre algum assunto relacionado à política populista. Em nosso mundo, a política não trata mais de filosofias de governo, mas sim de identidade (“Whole Foods vs. Walmart”). E em mundo assim, nacionalidade e política, mesmo no que têm de menos importante e trivial, parecem muito mais reais para as pessoas do que as próprias realidades do reino de Deus que Jesus descreveu em termos como uma semente sob o solo ou o fermento que age através do pão ou o vento que sopra nas folhas.
A partir desse ponto, não é preciso um salto para ver, em um dos exemplos menos nocivos, que os Estados Unidos estão em aliança com Deus para bênção ou maldição, da mesma forma que o Israel do Antigo Testamento estava. Ou mesmo para ver, de forma muito mais sombria, a separação militante do antigo Israel das outras nações como justificativa para a superioridade étnica ou como permissão para eliminar implacavelmente — de forma literal ou digital — aqueles que identificamos como “eles” em oposição a “nós”.
Essas ideias interpretam de forma equivocada a história bíblica da redenção e resultam em um tipo de analfabetismo bíblico forçado que, em última análise, leva a um tipo de evangelho herético da prosperidade nacional.
Mas o que talvez seja ainda mais importante é que essas fusões entre Estado-nação ou uma identidade étnica ou uma causa partidária ou mesmo um vago “avivamento de valores” prejudicam nosso entendimento do próprio cerne do evangelho: a cruz de Jesus Cristo.
Por exemplo, é verdade que em 2Crônicas 7 Deus prometeu “curar a terra” em que o povo se arrependeu, orou e buscou sua face (v. 14). Mas isso foi na construção do templo, um templo que foi dedicado com sangue de bois e ovelhas, um templo no qual a presença de Deus estava centrada em um propiciatório. Tudo isso — o sangue, o templo, o propiciatório, as bênçãos, as maldições — apontava para Cristo, o único mediador entre Deus e a humanidade, e nele cumpriu-se.
Se não nos vemos como alguém que está diante de Cristo, por meio de sua carne e de seu sangue e por meio de sua mediação contínua, encontraremos outras coisas para preencher o vazio — entre elas, alguns movimentos horríveis de ressentimento focado em “pátria e sangue”. Contudo, se nos vemos como um templo que foi comprado com sangue, se nos vemos como aqueles que foram edificados juntos pelo Espírito, crucificaremos nossa necessidade de “usar” o cristianismo para nos levar a algum outro objetivo — sejam eles objetivos nobres, como os valores da família e a união nacional, ou objetivos desprezíveis como nativismo ou violência. Não precisamos de um Barrabás, de um César ou de uma Besta para lutar por nós. Precisamos de um Cordeiro ofertado por nós. Nada mais pode nos tornar íntegros novamente. Nada que não seja o sangue de Jesus.
Russel Moore é o responsável por liderar um novo Projeto de Teologia Pública da Christianity Today.
Traduzido por Mariana Albuquerque