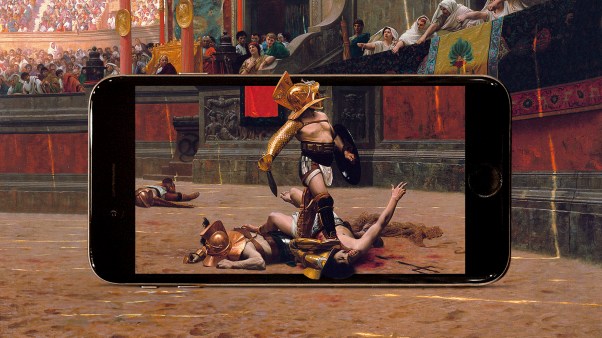Eu costumava achar que Deus me devia uma vida longa — para que eu buscasse e lutasse com todas as minhas forças por uma vocação, por minha família, e vivesse o suficiente para me tornar avô. Então, aos 39 anos, fui diagnosticado com um câncer incurável. O esperado enredo da minha vida foi interrompido. Agora, como paciente com câncer, minhas expectativas mudaram. O câncer provavelmente cortará décadas da minha vida; sinto dores e cansaço diários que esgotam minhas forças. Embora minhas expectativas anteriores em relação a Deus possam parecer razoáveis, vim a perceber como, sem querer, acabei abraçando uma espécie de evangelho da prosperidade. Eu acreditava que Deus me devia uma vida longa.
Essa suposição é generalizada. Entre os que acreditam em Deus, nos Estados Unidos, 56 por cento pensam que “Deus concederá boa saúde e cura de doenças aos crentes que tiverem fé suficiente”, de acordo com um estudo recente do Instituto Pew Research Center. Em outras partes do mundo, a porcentagem de cristãos que defendem essa visão é ainda maior.
De certa forma, essa crença se alinha a ensinamentos do Antigo Testamento sobre colher o que semeamos. “O infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa do justo”, diz Provérbios 13.21. O evangelho da prosperidade pega pepitas de sabedoria como essa e as combina com o ministério de cura de Jesus, de forma a explicar a doença por meio de um axioma claro: porque Deus nos ama, ele não quer que adoeçamos. Portanto, se não temos boa saúde, isso deve ser consequência de algum pecado pessoal ou, no mínimo, de falta de fé da nossa parte. De uma forma ou de outra, o culpado é quem está doente. E ainda que muitos evangélicos rejeitem essa forma “radical” do evangelho da prosperidade, muitos de nós aceitamos uma versão mais branda dela, um corolário: se procuro obedecer a Deus e viver com fé, devo esperar uma longa vida de sucesso terreno e relativo conforto.
Recentemente, uma amiga me contou sobre seu trabalho como conselheira de jovens do ensino médio, em um acampamento cristão de verão. Em um dia designado, esses jovens participaram de uma atividade destinada a ajudá-los a desenvolver pequenos gestos de empatia para com pessoas portadoras de deficiências físicas. Alguns deles tiverem os olhos vendados; outros, as orelhas tapadas; e outros ainda tiverem de fazer as atividades do dia sentados em uma cadeira de rodas.
No meio do dia, uma garota arrancou a venda e se recusou a colocá-la de volta. “Se eu ficasse cega, Deus me curaria”, disse ela. Ela tinha fé em Jesus e estava tentando obedecer a Deus. Como em uma transação previsível, ela sabia que, se fizesse sua parte, poderia contar que Deus lhe concederia uma vida que ela considerasse próspera. Se ela ficasse cega, Deus consertaria a questão.
O problema com essa abordagem não é a crença de que Deus pode curar e que ele nos ama. A questão é que o Deus das Escrituras nunca promete o tipo de prosperidade que essa estudante esperava com tanta confiança. Certamente, quando a cura acontece, inclusive por meio de tratamento médico, é uma boa dádiva de Deus. Quando nos sentimos como se estivéssemos em uma “cova” escura, como o salmista (Sl 30.1-3), podemos e devemos lamentar e implorar por libertação, inclusive de nossa dor e enfermidade. Agimos com razão quando pedimos a Deus por cura, assim como pedimos ao Pai o pão nosso de cada dia, na Oração do Senhor. No entanto, a cura, assim como o pão nosso de cada dia, são coisas efêmeras, apenas passageiras. Quer vivamos apenas alguns anos ou várias décadas, Eclesiastes nos lembra que, visto por uma lente mais ampla, “O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai” (5.15).
Cada um de nós acabará sendo um dia abatido pela morte, essa ferida que remédio nenhum pode curar. Embora Provérbios esteja certo em nos apontar a sabedoria comum de que colhemos o que semeamos, isso não é uma lei divina de como o universo sempre funciona. Jó era “íntegro e justo”, e ainda assim sofreu grande calamidade com a perda de seus filhos e servos, de sua riqueza e saúde (Jó 1.1, 13-19; 2.7-8). O apóstolo Paulo serviu a Cristo e à igreja sacrificialmente, com fé, mas não lhe foi concedido livramento de seu “espinho na carne” (2Co 12.7-10). Quando se trata de mortalidade e das perdas que a acompanham, nenhum de nós ficará livre. Embora tenhamos a tendência de afastar essas realidades humanas básicas de nossa vida cotidiana, descobri algo surpreendente: para nós, como cristãos, abraçar os lembretes diários de nossas limitações mortais pode ser um refrigério para nossa alma sedenta.
Boas novas pelas quais vale a pena morrer
Nossa vida “não passa de um sopro”, nossos dias são como “o comprimento de um palmo” em relação ao Deus eterno, como nos lembra o Salmo 39. Até que o Senhor da criação volte para fazer novas todas as coisas, nos juntamos ao salmista na oração:
“Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo; a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro” (Sl 39.4-5)
Essa oração contrasta com pressupostos culturais que são consenso comum hoje. Nossa tendência de construir contos sobre nós mesmos no Facebook e Instagram, por exemplo, é parte de uma liturgia cultural mais ampla — um conjunto de práticas que moldam nossos desejos — e que sutilmente leva muitos de nós a supor que estamos no centro do universo e que nossa história, não fosse pelo número real de nossos anos na terra, nunca terá fim. A crise do COVID-19 expôs a ilusão desses pressupostos. O fato de caminhões refrigerados terem sido obrigados a recolher os corpos dos mortos, em cidades como Nova York e Detroit, é um testemunho chocante de que as nações altamente desenvolvidas não são imunes a mortes inesperadas. Além disso, como revelaram os protestos por causa do assassinato de pessoas negras desarmadas, essa suposição de que “minha história nunca vai acabar” é culturalmente privilegiada. A igreja negra e outras comunidades marginalizadas estão dolorosamente conscientes da natureza fugaz da vida humana. “Partir, partir, partir para Jesus”, entoa o Negro Spiritual. Pois “não tenho muito tempo para ficar aqui”.
Nossa mortalidade não era algo tão fácil de evitar nas gerações anteriores. Além da realidade de que doenças transmissíveis, com risco de vida, eram uma ameaça sempre presente, a cultura da morte na América era mais comunitária. Os cultos fúnebres serviam como lembretes constantes da mortalidade humana, uma vez que congregações inteiras participavam deles, inclusive as crianças. O foco desses cultos tradicionalmente voltava-se para o fato de que não pertencemos a nós mesmos, mas sim a Cristo, na vida e na morte. Em contraste, hoje é mais comum ter cultos memoriais personalizados, adaptados à história de vida particular do falecido, no qual comparecem apenas familiares e amigos. Podemos nos preocupar com a morte de outra pessoa, mas apenas quando isso for significativo para a nossa própria história. Nossa história pessoal é o que mais conta. A morte é algo que acontece para outras pessoas.
O Salmo 39 põe fim a essas ilusões, embora esteja carregado de esperança. Mesmo que sejamos criaturas temporais, ainda podemos encontrar o verdadeiro florescer investindo nosso amor mais profundo naquele que é eterno, o Senhor. Peter Craigie, um comentarista particularmente perspicaz dos Salmos, observa como o valor da vida deve ser entendido à luz de sua finitude. “A vida é extremamente curta”, Craigie escreveu certa vez. “Se quisermos encontrar o significado da vida, este deve ser encontrado no propósito de Deus, o doador de toda a vida.” Na verdade, reconhecer a “natureza transitória” de nossa vida é “um ponto de partida para alcançar a sanidade de um peregrino em um mundo que de outra forma seria loucura”. Craigie escreveu essas palavras em 1983, no primeiro dos três volumes sobre o livro de Salmos, que estavam planejados para serem lançados em uma prestigiosa série de comentários acadêmicos. Dois anos depois, ele morreu em um acidente de carro, deixando sua série de comentários incompleta. Ele tinha 47 anos.
A vida de Craigie foi tirada antes do que ele e seus entes queridos esperavam, antes que ele pudesse realizar seus bons e dignos objetivos terrestres. No entanto, em sua vida transitória, ele deu testemunho desse horizonte da eternidade, de tirar o fôlego. Ele deu testemunho de que aceitar nossas limitações mortais é algo que anda de mãos dadas com ofertar nosso corpo mortal ao Senhor da vida. Não somos heróis do mundo e não podemos fazer muito. Mas podemos amar com generosidade e dar testemunho daquele que é a origem e o fim da própria vida — o Senhor eterno, o Alfa e o Ômega, o Salvador crucificado e ressurreto que realizou e realizará o que nós mesmos jamais poderíamos realizar.
O antídoto para a negação da morte
Nossa fé não deve ser usada como escudo para nos proteger da solene realidade de nossa própria mortalidade. Essa atitude de negação da morte, tão comum na atual versão “branda” do evangelho da prosperidade, na verdade é desnecessária por causa de nossa esperança em Deus para a ressurreição dos mortos. No final, uma fé incapaz de lidar com nosso desamparo fatal nem vale a pena ter. O apóstolo Paulo admite isso abertamente: “se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm”, disse ele em seu famoso capítulo sobre a ressurreição de Cristo. “Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão” (1Co 15.14, 19). Admitir diariamente nossa impotência diante da morte pode ser uma maneira de nos entregarmos ao Senhor ressuscitado, em vez de dependermos de nossas próprias tentativas de construir uma vida terrena “próspera”.
Estranhamente, admitir nossa impotência diante da morte dessa forma pode nos libertar da escravidão ao medo da morte. Sociólogos de uma escola de pensamento inspirada no livro vencedor do Prêmio Pulitzer de Ernest Becker, The Denial of Death [A negação da morte], documentaram como as culturas tendem a idolatrar heróis políticos ou as venturas de uma nação como forma de negar suas limitações mortais. Quando nós, humanos, negamos nossa mortalidade, tornamo-nos defensivos, e confiamos apenas em nossa própria tribo política ou em nossos próprios grupos raciais ou culturais. Mas viver na esperança da ressurreição elimina a necessidade de idolatrar líderes falhos ou caiar causas ideológicas pecaminosas. Somos capazes de admitir abertamente que não podemos derrotar a morte. Em vez disso, vivemos na confiança de que, no dia final, “Quando […] o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal, de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: ‘A morte foi destruída pela vitória’ ” (1Co 15.54). Esse dia ainda não chegou — ansiamos por ele na era vindoura, quando o reino de Cristo virá em plenitude. Nossa esperança nele, e nos propósitos de Deus, em vez dos nossos, faz uma grande diferença no modo de vivermos cada dia hoje.
À luz da esperança da ressurreição, Paulo cria que, embora “exteriormente estejamos a desgastar-nos”, a decadência do nosso corpo não terá a palavra final (2Co 4.16). Além disso, até mesmo as aflições que vivemos no corpo são integradas à realidade que nos sustenta: a nossa união com o Senhor crucificado e ressurreto. “Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal” (v. 11). Quer tenhamos visão ou mobilidade, quer vivamos 5, 40 ou 90 anos, nosso corpo pertence ao Senhor, e o processo de desgaste exterior pode ser um testemunho de amor humilde por nosso Salvador. Surpreendentemente, em sua obra no mundo, o Espírito abrange os problemas físicos. Como testemunhas de Cristo, a própria deterioração do nosso corpo mostra “que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós” (v. 7). Dessa forma, a âncora de nossa esperança não é a libertação do processo de decadência, mas a união com o Cristo crucificado e ressurreto. Essa união com Cristo florescerá plenamente na ressurreição vindoura, quando participaremos em “uma glória eterna que pesa mais” do que nossas tribulações atuais (v. 17).
A dádiva dos lembretes da mortalidade
De acordo com Martinho Lutero, mesmo quando nosso corpo vibra e a morte parece pertencer a um país distante, devemos fazer da morte uma conhecida habitual. “Devemos nos familiarizar com a morte durante a vida”, escreveu ele em um sermão de 1518, “convidando a morte à nossa presença, quando ela ainda está à distância, e não quando está se aproximando”. Por que Lutero aconselha isso? Sua razão não é alguma tendência mórbida, mas sim o mesmo motivo pelo qual o salmista se refere à vida como meramente “o comprimento de um palmo” diante de Deus: a morte transpassa nossa arrogância, nossa sensação de que o mundo é um drama no qual somos o ponto central. Esses lembretes de nossa morte podem apontar para o Deus da vida — o Deus que revestiu de carne ossos secos — como nossa única esperança, agora e no futuro. Como Lutero nos lembra, “já que todos devemos partir, devemos voltar nossos olhos para Deus, a quem o caminho da morte nos conduz e nos dirige”.
Nos dias bons e maus, em meio à alegria e à dor, passei a aceitar esses lembretes da minha mortalidade como dádivas estranhas, mas benéficas. Eles conseguem me firmar como um mortal diante de Deus. Vivemos na esperança de que a fragilidade e a decadência de nosso corpo não sejam a medida última de nossa vida. Vivemos na esperança de que o drama central do universo não seja a história da nossa própria vida. Pelo contrário, ao vivermos como pequenas criaturas, podemos nos alegrar na maravilha e no drama do amor de Deus em Cristo.
Nossa vida presente terminará quando, assim como Jó, nós, como criaturas que somos, formos privados de família, fortuna e futuro mundano. Mas, mesmo à luz deste fim mortal — na verdade, especialmente à luz dele — podemos nos juntar ao apóstolo Paulo em estar “convencido[s] de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor”(Rm 8.38-39).
J. Todd Billings é o Professor/pesquisador de Teologia Reformada da cátedra Gordon H. Girod, no Western Theological Seminary, em Holland, Michigan. Este artigo inclui material adaptado de seu último livro, The End of the Christian Life: How Embracing Our Mortality Frees Us to Truly Live [O fim da vida cristã: como aceitar nossa mortalidade nos liberta para vivermos de verdade].
Traduzido por Mariana Albuquerque