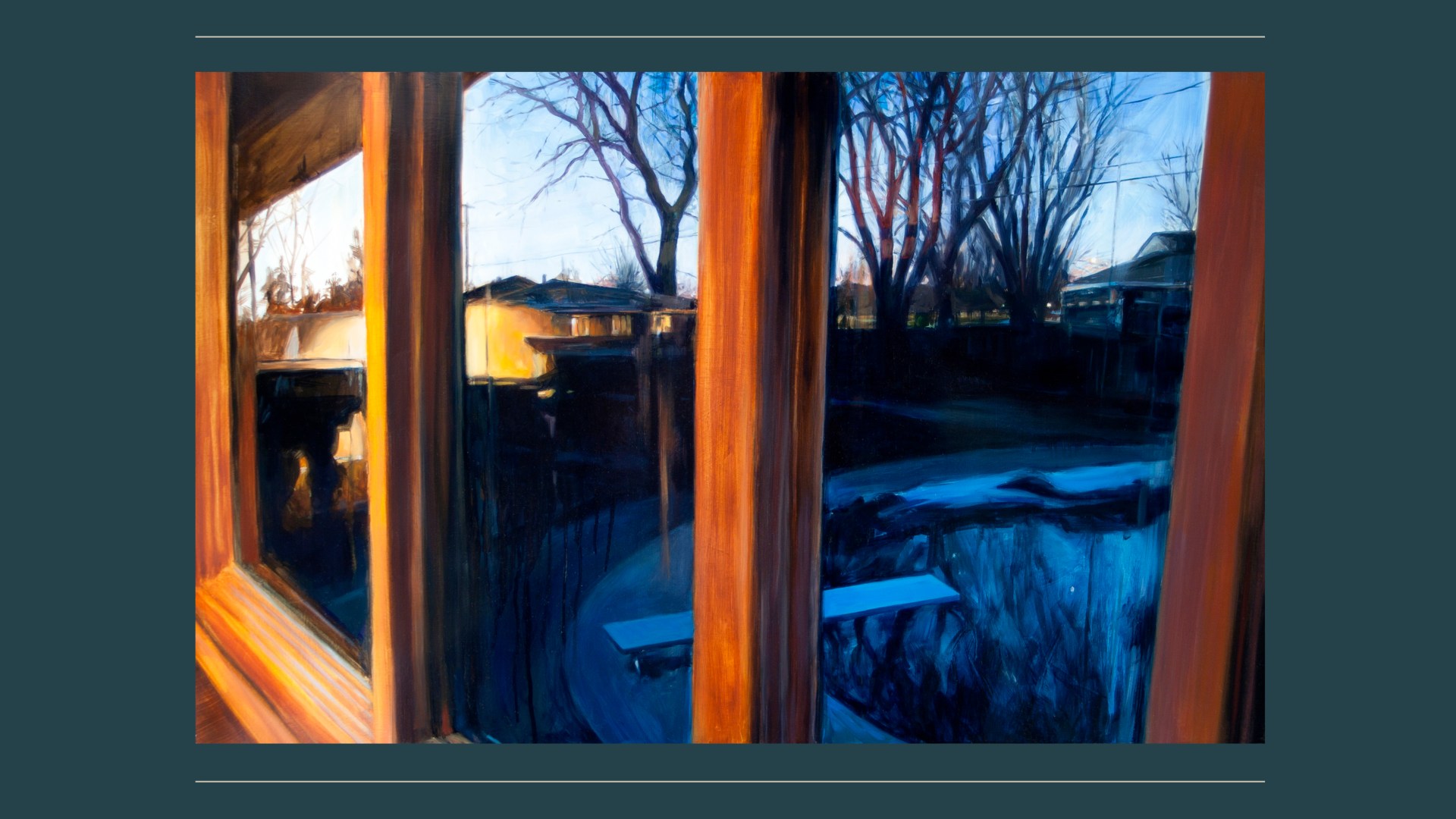Nunca tive a intenção de educar nossos filhos em casa. Quando começamos, não foi por motivações religiosas. Bem, talvez tenha sido um pouco. Vivíamos em uma pequena cidade, localizada na zona rural, e minha filha, que então cursava a educação infantil, precisava viajar de ônibus por uma hora até a escola. Isso a fazia ficar fora de casa das 7h às 16h, cinco dias por semana. A escola era boa e a professora, ótima, mas, quando chegava em casa, minha filha estava tão cansada que mal sobrava tempo para o discipulado em família que eu havia idealizado.
Então, tomamos a decisão de tentar a educação domiciliar — só com nossa filha mais velha e somente durante um ano. No entanto, quando nos preparávamos para matricular nosso segundo filho na educação infantil, surgiram alguns sinais de alerta em relação à sua saúde e a necessidades de aprendizado, e chegamos à conclusão de que seria mais fácil optar pela educação domiciliar para os dois, naquele ano letivo. Depois disso, o ritmo da educação domiciliar se adaptou perfeitamente ao nosso estilo de vida. O trabalho do meu marido tem suas temporadas com uma carga horária intensa e outras com mais tempo em casa, e conseguimos ajustar nossa rotina familiar de acordo com essas oscilações.
As pessoas frequentemente nos perguntavam se sempre educaríamos nossos filhos em casa. Eu costumava responder que estávamos indo “criança por criança, um ano de cada vez”. A educação domiciliar era algo inesperado que Deus havia colocado em nosso caminho, e eu não ousava presumir o que ele planejara para nós em seguida.
Mas isso não significa que cheguei facilmente a uma postura de confiança e humildade em relação às decisões sobre a educação escolar. Passei por uma fase arrogante, tive uma fase exasperada, e, finalmente, cheguei a uma fase em que fui ganhando mais confiança. No entanto, durante discussões sobre educação com outros pais e membros da nossa comunidade, percebi que em geral eram os cristãos — e, às vezes, até eu mesma — que demonstravam pouca graça, independentemente do lado que estivéssemos defendendo. Eu já tinha sido uma mãe que defendera com arrogância, primeiro, a escola pública, depois, a educação domiciliar, até que, finalmente, me tornei uma mãe humilde, que se deixa ser guiada pelo Senhor. Essa última fase foi conquistada a duras penas, por isso espero ajudar outros pais a chegarem nela mais rapidamente do que eu.
Não me arrependo dos anos em que eduquei meus filhos em casa. Pelo contrário, eu os valorizo muito. Todavia, o fato de não termos sido capazes de assumir um compromisso vitalício com a educação domiciliar foi fonte de tensão em alguns de nossos relacionamentos. Quando me inscrevi para ser tutora em nosso grupo local de educação domiciliar, pediram que eu assinasse um contrato, comprometendo-me a educar todos os meus filhos em casa, até se formarem no ensino médio. Além disso, eu deveria declarar minha convicção de que a educação domiciliar era a melhor escolha para todas as famílias. Parecia uma grande presunção de minha parte afirmar isso em relação a mim ou aos outros. Por isso eu sempre acrescentava, às margens dos contratos, frases como “se Deus assim quiser”.
Hoje, 14 anos depois, nossa jornada na educação domiciliar chegou ao fim. Paramos por diversas razões. Pouco a pouco, Deus foi preparando nossos corações para esta mudança. Nossos filhos estão crescendo e conversamos com cada um deles sobre essa transição. Fizemos escolhas individualizadas, considerando as diferentes necessidades e desejos de cada um. Dos nossos seis filhos, o mais velho está no segundo ano da faculdade. Outro já é quase adulto e está matriculado em uma escola on-line. Outros dois estão em uma escola pública, e os dois restantes frequentam uma escola cristã particular. Eles permanecerão onde estão até se formarem? Se Deus assim quiser.
Minha experiência me ensinou que a educação domiciliar não é uma fórmula segura para garantir a fé de uma criança. Vi muitas crianças educadas em casa que, ao chegarem à idade adulta, não queriam mais saber de Deus. Uma delas me disse: “É difícil demais. Deus quer que eu seja perfeito o tempo todo, e não é que eu não possa mais tentar agradá-lo; é que simplesmente não me importo mais.”
Vi o esgotamento espiritual nos rostos de adolescentes cujos pais querem usar a lei de Deus para criar supercrianças com uma super fé, mas acabam fomentando um cristianismo sem Cristo. Deus é nosso ponto de partida, mas, na prática, tentamos determinar o que nossos filhos farão e pensarão. Transformamos o conselho prudente de Provérbios 22.6 — “Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles” — em uma garantia mecânica.
Inconscientemente, começamos a acreditar que, se formos pais perfeitos, teremos filhos perfeitos — e que a educação domiciliar oferece um grau de controle que outras opções de educação não conseguem ter. No entanto, esta é uma fórmula destituída da doutrina do pecado e da redenção. Em sua essência, é uma espécie de salvação por obras. Isso é devastador — e não apenas para as crianças que perdem a fé.
Fiquei desolada ao testemunhar o sofrimento de uma amiga, que passou anos educando seus filhos em casa, apenas para, mais tarde, ver um deles rejeitar a fé que ela lhe ensinou. Na visão dessa mãe, ela fez tudo certo. Manteve um padrão elevado. Disciplinou bem. No entanto, a fórmula não funcionou.
Obviamente, todos os pais têm suas fórmulas; isso não é exclusividade da educação domiciliar. Meu pastor, por exemplo, enviou os filhos para uma escola cristã, para que tivessem uma base sólida, mas depois mudou para escolas públicas, para expor os filhos ao mundo, enquanto ainda podiam contar com os pais todas as noites para sanar suas dúvidas e perguntas. Algumas famílias acham que seus filhos se saem melhor na escola pública, onde é mais fácil decifrar quem é cristão e quem não é, e onde podem encontrar mais oportunidades para colocar a fé em ação. Outras começam matriculando os filhos na escola pública e depois mudam para a escola cristã, ao perceberem que eles têm o coração sensível e precisam de um ambiente mais protetor. Outras ainda têm filhos com necessidades especiais que não podem ser devidamente atendidas por pequenas escolas cristãs.
Algumas fórmulas funcionam, outras não. Porém, pela minha observação, o fator constante em histórias de sucesso na área da educação não é uma fórmula específica. Deus será fiel para com os nossos filhos, e podemos confiar nele em qualquer situação.
É claro que ter a capacidade de fazer escolhas educacionais — de decidir qual fórmula parece ser a melhor — é um privilégio, e o privilégio nunca é um pré-requisito para a fé. Pelo contrário: “Bem-aventurados os pobres, pois a vocês pertence o Reino de Deus.”, Jesus ensinou. “Mas ai de vocês os ricos, pois já receberam sua consolação” (Lucas 6.20,24). De qualquer forma, o discipulado não está restrito ao horário escolar.
A capacidade de criar nossos filhos na fé não depende de onde estamos, de nossa renda nem de outras vantagens materiais. Grandes santos foram criados em lugares onde o cristianismo é ilegal. Muitos cristãos profundamente fiéis jamais frequentaram uma escola, sequer por um dia. Deus não é limitado por nossas escolhas educacionais.
Em contrapartida, como mãe que já experimentou todas as opções educacionais mais comuns nos Estados Unidos, posso afirmar sem hesitação: independentemente do caminho educacional que você escolher, o pecado estará lá. Na educação domiciliar, também temos valentões que intimidam as outras crianças. As crianças brigam. Os professores ficam cansados. A disciplina é difícil. Mesmo na educação domiciliar, Cristo é o único Salvador, e nenhuma escolha educacional poupará uma mãe ou um pai de lamentar com seu filho pelo estado caído do nosso mundo. Nenhum grau ou nenhum modelo de educação pode ignorar nossa necessidade desesperada de um Salvador, a cada hora, todos os dias.
A educação domiciliar foi uma parte gratificante da nossa história familiar. Todavia, ainda que não tivéssemos conseguido empreendê-la, o pecado ainda seria real, e Deus ainda seria fiel.
Eu sou luterana, e na doutrina da vocação, em nossa tradição, não buscamos um plano único que sirva para todas as pessoas. Sabendo que somos salvos pela obra de Cristo, e de Cristo somente, somos livres para amar e servir ao próximo de muitas maneiras diferentes. Como isso se dará é algo que varia de pessoa para pessoa, de família para família e de comunidade para comunidade. O mesmo vale para a educação. Em nossa vocação como pais, é razoável considerarmos as opções educacionais que temos diante de nós, as necessidades de nossos filhos e as nossas próprias necessidades como pais e, em seguida, escolher a melhor opção.
Eu aprendi que existem prós e contras em todos os tipos de educação, e tudo bem que seja assim. Minha fé não está em nenhuma fórmula educacional. As fórmulas são suscetíveis a falhas. Tampouco, minha fé reside em minha capacidade de ser a mãe perfeita. Eu não sou o salvador dos meus filhos. Minha fé está em Cristo e em Cristo somente.
Gretchen Ronnevik é autora de “Ragged: Spiritual Disciplines for the Spiritually Exhausted” e co-apresentadora do podcast “Freely Given”.




















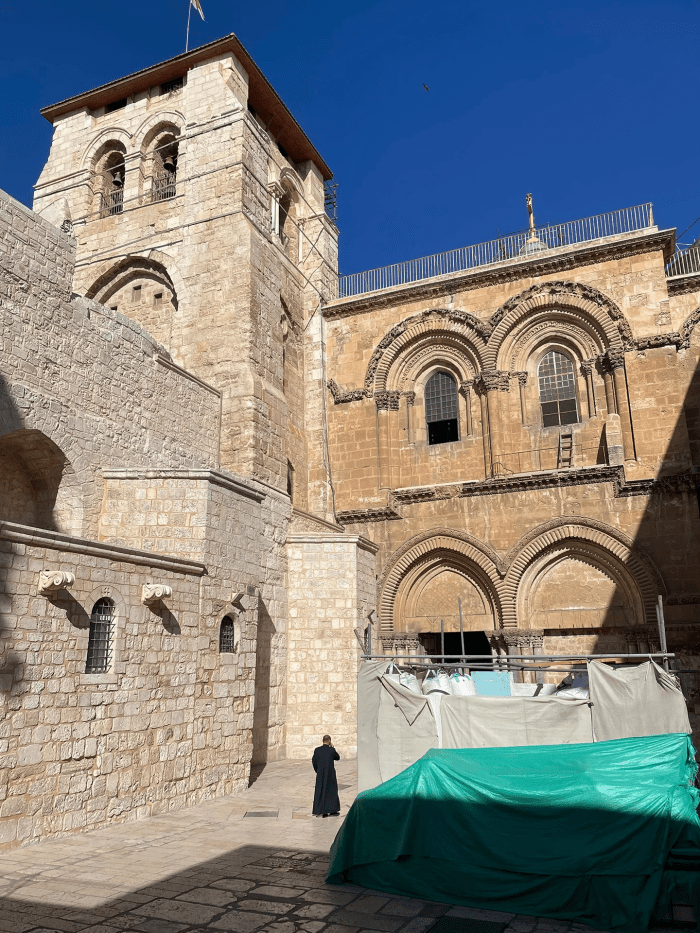
![Um manifestante segura um cartaz no comício All Out for Palestine [Todos na rua pela Palestina], na Times Square.](https://pt.christianitytoday.com/wp-content/uploads/sites/15/2023/10/136916.png?w=162&h=88&crop=1)