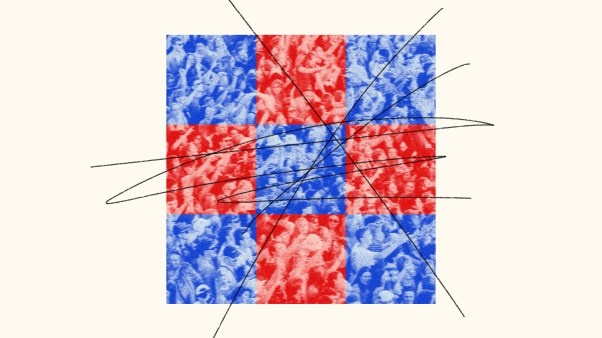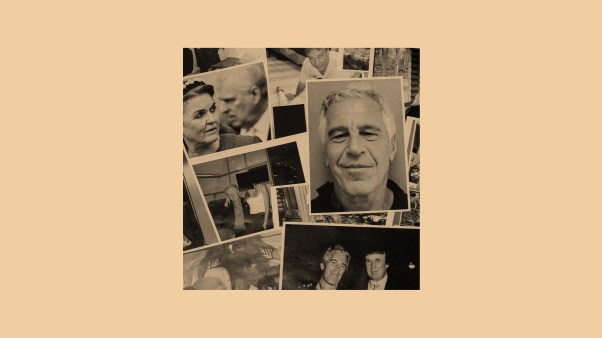Este artigo foi adaptado da newsletter de Russell Moore. Para recebê-la, inscreva-se aqui.
“Quando combinamos narcisismo com niilismo, criamos um ácido que corrói qualquer sistema de crenças em que ele tocar”. Essa é a avaliação que meu amigo David Brooks apresenta na última edição da The Atlantic [revista estadunidense], a respeito do status de um movimento do qual ele já afirmou fazer parte: o conservadorismo americano.
Brooks argumenta que, apesar da mensagem “povo-versus-elite”, praticamente todos os líderes que ele vê celebrando a crueldade e o vício são ricos integrantes da Ivy League [expressão utilizada para denominar pessoas que frequentaram universidades tradicionais de ponta, conhecidas não só pela qualidade do ensino, mas também pelo valor elevado de suas mensalidades. Essas instituições geralmente possuem alunos de famílias tradicionais, ricas e poderosas.] Brooks os chama de “niilistas da Vineyard Vines” [marca de roupas e acessórios estadunidense usada pela classe alta]. Brooks argumenta que isso já seria ruim o bastante, se fosse uma questão que afetasse apenas a esfera política; contudo, ele afirma que o niilismo tem “corroído o cristianismo” também.
Muitos desses niilistas, escreve Brooks, “identificam-se ostensivamente como cristãos, mas não falam muito sobre Jesus; eles usam uma cruz no peito, mas Nietzsche no coração — ou, para ser mais preciso, uma versão de Nietzsche para adolescentes.”
“Para Nietzsche, todas essas religiosidades cristãs sobre justiça, paz, amor e civilidade são restrições que os fracos constroem para castrar os fortes”, continua Brooks. “Nesta visão, o nietzscheanismo [o pensamento de Nietzsche] é uma moralidade para vencedores. Ele adora virtudes pagãs como poder, coragem, glória, vontade e autoafirmação”, assim como a dominação sobre “aqueles sentimentalistas doentios que praticam a compaixão”.
No que diz respeito ao cristianismo, ao menos um pensador notou que o niilismo estava aos poucos sendo acolhido — e isso há 40 anos.
Em seu livro The Seduction of Christianity [A sedução do cristianismo], de 1986, o filósofo francês Jacques Ellul advertiu que um posicionamento do cristianismo em direção ao niilismo — literalmente, a crença em nada — já estava acontecendo em estágios perceptíveis.
O cristianismo se move em direção ao niilismo, disse Ellul, quando observamos “a transformação de um movimento relacional vivo em algo situacional, que é alcançado e definitivo”. Ellul disse que esse tipo de “congelamento”, que transforma uma religião relacional em um artefato, já havia sido antecipado pelo próprio Novo Testamento.
“Esse foi o erro cometido pelos discípulos, quando viram a transfiguração e propuseram armar tendas para que pudessem permanecer na luz inefável, em companhia de Moisés e Elias”, escreveu Ellul. “É o erro de uma tentativa de solidificar em um sistema amarrado, abrangente e explicável algo que é um movimento imprevisível em direção a algum resultado.”
A primeira vez que li esse trecho, há alguns anos, eu discordei da avaliação de Ellul. E, em muitos aspectos, ainda discordo.
Em um primeiro momento, Ellul parece estar traçando a nítida distinção entre “doutrina” e “experiência”, que era característica do liberalismo protestante praticado nos séculos 19 e 20. Como um estudioso atento de Karl Barth, Ellul saberia que um cristianismo experiencial despido de uma Palavra objetiva conduziria a seu próprio tipo de niilismo — a “teologia natural” que evoluiu para a religião Volk, fruto de sangue e solo alemães, e a qual, no fim, levou aos campos de extermínio.
E se o que Ellul pretende dizer com “congelamento” for a transformação da revelação viva e relacional de Cristo em um compromisso com uma autoridade canônica e textual que se situa fora e acima do cristão [individual] e da igreja, eu argumentaria que esse “congelamento” não é a fonte do nosso niilismo atual. Na verdade, é exatamente o oposto.
Muitos daqueles que imploram para que o evangelicalismo “caia na real” — e, portanto, supere a mentalidade de “perdedor” do Sermão do Monte — falam em alto e bom som sobre a autoridade da Bíblia, mas estranhamente têm muito pouco a dizer sobre as palavras da Bíblia propriamente ditas.
De fato, muitos dos que mais se entusiasmam com o empoderamento do nietzscheanismo que Brooks descreve estão muito mais familiarizados com a lei natural do que com o texto bíblico, ou com uma “visão de mundo” extraída do texto do que com o texto em si — com sua narrativa, poesia e seus apelos ao sacrifício, bem como com seus sistemas doutrinários e suas exortações morais.
Se hoje pudesse destacar um sinal que eu poderia — e deveria — ter previsto, esse sinal seria aqueles que amam a cristologia, mas não amam Jesus; que amam a autoridade bíblica, mas não a Bíblia; que amam o conservadorismo, mas não aquilo que deve ser conservado.
Esse, de fato, foi o estágio que Ellul mais profeticamente enxergou de longe — o qual ele chama de “dissociação”. Ele escreveu: “isso [essa dissociação] quebra o vínculo entre a Palavra e aquele que a profere, entre persona e proclamação (por exemplo, o fato de que a palavra de Jesus só é verdadeira porque é ele quem a proclama).
Ellul argumenta que isso acontece sempre que, ao contrário do Novo Testamento, há a articulação de uma “moralidade cristã que é independente da fé” e da conversão. Ele escreveu que a tentação perene da igreja é se esforçar “para alcançar uma conduta objetiva e sem referência à vida espiritual, sem o conhecimento de Deus em Jesus Cristo”. Nesse sentido, a antiga canção está certa: “Não há nada tão frio como as cinzas / Depois que o fogo se apaga”.
Como afirma Flannery O’Connor:
Nossa resposta à vida será diferente, se tivermos aprendido apenas uma definição de fé, do que se tivéssemos tremido com Abraão, quando ele segurou a faca sobre [o corpo de] Isaque. Esses dois tipos de conhecimento são necessários, mas nos últimos quatro ou cinco séculos, nós, na Igreja, enfatizamos demais o abstrato e, consequentemente, empobrecemos nossa imaginação e nossa capacidade de percepção profética.
O cristianismo é mais do que “um relacionamento pessoal com Jesus”. Sim, é verdade. Mas certamente nunca poderá ser menos do que isso.
Quando pessoas — que foram criadas para viver em comunhão com Deus, por meio de Cristo, em uma comunidade viva — substituem todas essas coisas pela genérica “experiência do numinoso”, elas acabam gerando um moralismo morto.
Mas, quando substituem essa fé viva por um conjunto de exigências doutrinárias ou de “propostas de visões de mundo” cada vez mais restritas, elas acabam satisfazendo a necessidade de algo vital com aquilo que lhes parecer estar mais vivo naquele momento. E no momento que estamos vivendo hoje, esse “aquilo” [que parece estar mais vivo] é a política.
A política já chega a nós como algo pronto, com sua versão própria de avivamento, com seus hereges para caçar e suas fronteiras para policiar, tudo isso acompanhado do bônus de que não é preciso crucificar a carne e pode-se até celebrar os propósitos “utilitários” daquilo que Jesus disse que levava à morte.
A igreja ainda não se rendeu plenamente, ou nem mesmo em sua maior parte (segundo penso e oro) ao niilismo. Mas, conforme Deus alertou Caim, “o pecado o espreita à porta; ele deseja governá‑lo, mas você deve dominá‑lo.” (Gn 4.7)
A hora já é avançada, porém. As tendas já estão armadas aqui, no topo da montanha; mas onde está Moisés? Onde está Elias? Onde está a glória? Para encontrar tudo isso novamente, precisamos ouvir a voz que outrora trovejou das nuvens: “Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Ouçam‑no!” (Mt 17.5)
Uma igreja que se afasta do niilismo ficará desorientada a princípio — assim como Pedro, Tiago e João ficaram, quando escutaram a voz. Mas o resultado final será o mesmo: “Quando eles ergueram os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus.” (v.8)
Muitos dos nossos clichês evangélicos já se provaram mais verdadeiros do que pensávamos. “Tudo o que precisamos é de Jesus”, diria o aforismo usado no púlpito. É verdade — não precisamos somar nada a Jesus, pois Jesus + nada = tudo. Jesus + niilismo, porém, é algo impossível de conciliarmos. Pois [como ninguém pode servir a dois senhores] amaremos um e odiaremos o outro.
Russell Moore é o editor-chefe da Christianity Today e lidera seu Projeto de Teologia Pública.