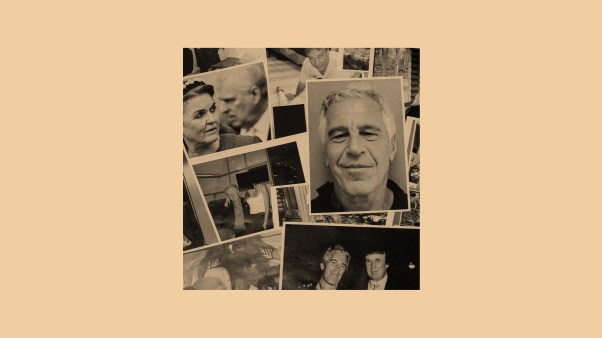Um dos piores sentimentos do mundo é ver um desastre que você não consegue impedir se desenrolando. Um acidente de carro que você vê que vai acontecer uma fração de segundos antes do impacto. Uma pessoa cuja doença você consegue diagnosticar, mas não consegue curar. Uma avalanche descendo montanha abaixo, quando você sabe que nada pode ser feito para detê-la. Um furacão de categoria cinco que está vindo em sua direção e promete provocar uma destruição incalculável.
Para um número crescente de pessoas, as mudanças climáticas evocam esse mesmo sentimento. À medida que novas máximas de temperatura são batidas a cada dois anos (com o ano de 2023 superando todas as médias globais anteriores de temperatura nos últimos 100.000 anos), assistir à mudança climática da Terra se parece com assistir a um desastre de trem que está acontecendo em câmera lenta.
Inundações, incêndios florestais e tempestades recordes, sem precedentes, chocam-se de frente com a indecisão de governos, a apatia (ou negação) política e as prerrogativas individuais. Só no mês passado, dois furacões monstruosos, Helene e Milton, devastaram os estados do Sul dos EUA, deixando comunidades inteiras destruídas. A crescente disparidade entre a escala dos desafios que enfrentamos e a pequena quantidade de poder que qualquer pessoa comum possui já é capaz de fomentar uma sensação de desespero e ansiedade.
As pessoas processam desastres de grandes proporções de maneiras diferentes. Muitas optam por uma postura de negação, ignorância ou apatia (“não há nada que eu possa fazer mesmo, então, por que tentar?”) — e há pouco a ser feito em relação a essas pessoas, exceto continuar a disseminar conscientização e educação.
Mas aqueles que acreditam em alertas têm duas maneiras comuns de reagir. Os mais otimistas querem acreditar no melhor cenário; querem acreditar que há uma solução plausível que pode ser alcançada — que, com a quantidade certa de esforço coordenado, podemos fazer o que é preciso e mudar o mundo, talvez até mesmo no intervalo de uma ou duas gerações. Enquanto isso, os mais pessimistas querem ficar a par do pior cenário possível, para que possam gastar energia e esforço com cautela, tendo em mente a longa estrada que têm pela frente — eles sabem que é tolice correr o máximo que podem no início de uma maratona.
Notei essas duas reações diferentes no início dos lockdowns da COVID-19, lá na minha faculdade, em Oxford. Algumas pessoas nos diziam com confiança: “Isso tudo acabará em três meses — voltaremos ao normal em setembro!”. E eu circulava por aí com meu jeito pessimista, dizendo: “Bem, dados históricos sugerem que vai levar pelo menos um ano, talvez dois, antes que qualquer coisa parecida com a vida normal seja retomada. É melhor nos acostumarmos com isso.”
Eu realmente achava que estava ajudando as pessoas, quando estabelecia uma meta razoável, para que elas não tivessem a sensação — que eu odeio mais do que qualquer coisa — de que a linha de chegada ficava sempre mudando mais para a frente, cada vez que nos aproximávamos dela. Mas muitos dos meus amigos, que eram do tipo mais otimistas, sentiam que eu estava esmagando suas esperanças. Minhas tentativas de sempre considerar o pior cenário realista acabaram me rendendo o apelido carinhoso de “profeta do apocalipse”.
Em relação às mudanças climáticas, aqui está minha opinião de “profeta do apocalipse”: em certo sentido, a ansiedade que as pessoas sentem se justifica pelos fatos sombrios. O mundo está passando por mudanças rápidas e generalizadas, que trarão sofrimento intenso a centenas de milhões, se não bilhões, de pessoas.
Estamos presos nas garras de um sério vício global em combustíveis fósseis. A dura verdade a se encarar é que já queimamos petróleo e gás natural suficientes para colocar o clima em novos parâmetros. Quanto mais queimamos combustíveis fósseis, principalmente a essas taxas altíssimas às quais nos acostumamos, mais pioramos a situação.
Os combustíveis fósseis nos trouxeram muitas coisas boas. Aumento da expectativa de vida e melhoria das condições de nutrição. Diminuição da mortalidade infantil. Viagens rápidas e baratas. Não queremos perder os muitos benefícios da nossa cultura movida a combustíveis fósseis. Mas também não queremos ver nosso futuro sendo queimado pelo consumismo desenfreado ou pela ganância imprudente.
Como acontece com qualquer vício grave, a abstinência é dolorosa, custosa e, quando mal feita, pode ser fatal. Na verdade, as mudanças drásticas que são necessárias para conter nosso vício provavelmente significariam um sofrimento tremendo e prováveis perdas de vidas.
Pense nisto: construímos todo o nosso mundo desenvolvido para depender da agricultura em larga escala, do transporte rápido e eficiente de alimentos e mercadorias, e de casas dependentes de sistemas de aquecimento e de resfriamento que consomem muita energia. Se cortarmos o petróleo, que é a força vital desses sistemas, pessoas podem morrer.
À medida que o clima esquenta, esses eventos ligados ao aquecimento se tornarão mais frequentes, embora a maneira mais eficaz de diminuir o número de mortes que eles provocarão seja consumindo ainda mais energia para gerar espaços mais frescos. É um ciclo vicioso, que não para nas mudanças de temperatura.
Da mesma forma, os alimentos básicos da nossa dieta vêm de um sistema agrícola insustentável. Um estudo descobriu que 1,78 bilhão de pessoas são alimentadas por plantações que dependem diretamente de fertilizantes gerados por combustíveis fósseis, os quais, quando usados em excesso, podem envenenar cursos d’água e prejudicar a produtividade do solo com o passar do tempo.
Tudo isso mostra o quão perversamente complexo é o problema da mudança climática. Cientificamente falando, envolve perda de biodiversidade, poluição da água e do ar, acidificação dos oceanos, ciclos biogeoquímicos e colapso do sistema ecológico. Socialmente falando, envolve uso de tecnologia, metas de desenvolvimento sustentável, normas culturais, crescimento populacional, sistemas econômicos e políticos, crenças religiosas e limitações psicológicas e físicas.
A razão pela qual é tão difícil falar sobre mudança climática é que levantar qualquer questão é como puxar um fio em uma teia de aranha: todos os outros fios da teia são atingidos. Nós nos sentimos impotentes para efetuar as mudanças que gostaríamos de ver, quando simplesmente atender às necessidades de cada dia parece uma batalha dificílima. E, com isso, a ansiedade aumenta, até o ponto em que a própria ansiedade parece fazer parte da avalanche que ameaça desabar sobre nós. Será que existe alguma esperança?
A resposta curta é sim, existe. Na verdade, acho que este é o momento para uma esperança radical. Encontrei esse termo pela primeira vez no excelente livro de Jonathan Lear, Radical Hope: Ethics in the Face of Cultural Devastation [Esperança radical: ética diante da devastação cultural]. Lear explora a história da tribo Crow, em meados de 1800, conforme eles respondiam às mudanças trazidas pela colonização ocidental de seus territórios em Montana.
A figura-chave no livro é Plenty Coups, Chefe da tribo Crow que passou a vida liderando seu povo, em meio a essas mudanças frequentemente traumáticas, com uma percepção fundamental: o antigo estilo de vida nômade de correr atrás dos búfalos estava inevitável e irrevogavelmente liquidado. Como seu povo poderia ter esperança, quando a própria possibilidade de viver como um Crow de forma significativa estava sendo destruída? Eles tiveram que aprender um novo estilo de vida. Até mesmo seus valores essenciais, como o que significava ser corajoso, tiveram que ser reformados em uma cultura na qual os atos tradicionais de coragem dos guerreiros eram ilegais.
A esperança radical, então, é a esperança que se forma quando todas as esperanças que tínhamos antes se acabam. A esperança radical foi o tipo de esperança que Deus proporcionou aos exilados israelitas na Babilônia, quando disse:
Construam casas e habitem nelas; plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas; […]Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei […] Não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. (Jeremias 29.5-8)
Esta passagem vem antes das famosas palavras no versículo 11: “‘Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês’, diz o Senhor, ‘planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro.’” No entanto, os bons planos de Deus não eram para que aquela geração voltasse para casa e vivesse como sempre tinham vivido. Em vez disso, a esperança e o futuro deles estavam em investir no exílio. Como a tribo Crow, eles aceitaram a realidade de que sua antiga vida não existia mais e precisava ser refeita.
Da mesma forma, para nós, a esperança radical significa criar raízes em nosso exílio pessoal e esperar que a promessa de Deus seja cumprida além do alcance da nossa própria vida.
Estamos apenas começando a ver as consequências de uma crise que caracterizará o mundo nas próximas décadas, e percebendo que toda a nossa boa vontade — toda a nossa reciclagem, os nossos canudos de papel e as nossas escovas de dentes de bambu — não conseguirá impedir o gigante da mudança climática. Os rolos compressores da economia e da política são simplesmente fortes demais para que nossos pequenos atos façam muita diferença.
Em 2016, 195 países aderiram ao Acordo de Paris, um tratado para tentar evitar que a mudança climática ulltrapassasse 1,5 grau Celsius (2,7 graus Fahrenheit). Essa esperança de manter o aquecimento global abaixo de 1,5 grau já se foi, mas ainda há lugar para a esperança radical.
Mas como viver essa esperança radical em nossa vida cotidiana?
Para mim, ela lembra muito a antiga oração da serenidade: “Senhor, dá-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para saber a diferença [entre elas]”. Na prática, significa fazer planos para usar minha energia de forma a tentar fazer a máxima diferença que eu puder com as escolhas que faço e as ferramentas que tenho.
Uma ferramenta que me ajuda a calcular bem meu foco de atenção e minha energia é a chamada “teoria das colheres” — que ouvi de meus amigos portadores de deficiências crônicas. É uma maneira de medir o esforço que você tem que despender, quando tem uma doença que o impede de fazer tudo o que deseja em um dia. Em suma, a teoria das colheres pede que você imagine seu nível de energia diário como se fosse um certo número de colheres. Então, você divide suas tarefas diárias com base em quanta energia cada uma delas consome: duas colheres para levantar e se vestir, seis para fazer compras, três para preparar uma refeição, e assim por diante.
Eu faço algo parecido com isso para a questão do cuidado com a criação. Geralmente uso metade das minhas colheres de energia ambiental para advocacy e para tentar mudar instituições sistêmicas e políticas: votando, escrevendo cartas para líderes políticos, mobilizando e educando pessoas. A outra metade das minhas colheres eu uso em trabalhos menores, mais gratificantes psicologicamente, embora menos impactantes: recuperando uma margem de riacho, pesquisando e substituindo produtos por outros melhores em minha vida, vasculhando brechós.
O esforço que dedico a essa minha pequena parcela de influência democrática para buscar uma mudança sistêmica, em vez de tentar viver uma vida privada perfeita, significa que minha escova de dentes ainda é de plástico, e que meu carro, que raramente uso, ainda é movido a gasolina — mas [também significa que] tenho uma chance maior de fazer diferença em larga escala do que se eu dedicasse todos os meus esforços para tornar minha vida individual perfeita.
Enquanto os modelos culturais negam as mudanças climáticas ou abrem mão de todos os bens da sociedade moderna para viver uma vida ideal e fora do sistema em alguma fazenda orgânica, eu descobri que a teoria das colheres me ajuda a administrar o perfeccionismo que poderia sobrecarregar e matar a possibilidade de fazer um bem real e concreto, sem sentir uma culpa avassaladora a respeito de tudo o que não posso fazer.
A cultura ocidental vive em profunda negação de algumas das realidades básicas da vida, como doenças, sofrimento e morte. Uns tentam dribar essas realidades fazendo usos cada vez mais elaborados de energia movida a combustíveis fósseis, como o congelamento criogênico.
Como cristãos, porém, nossa fonte última de esperança radical encontra-se na história da Páscoa. Jesus não evitou o sofrimento intenso nem a morte, mas os aceitou, suportou e venceu. E, ao fazê-lo, ele abriu caminho para a esperança radical da vida ressuscitada. A esperança cristã não está em evitar ou em driblar a morte ou o sofrimento, mas em atravessá-los com coragem e virtude, enquanto antecipamos a esperança da ressurreição e da vida eterna na nova criação de Deus.
À medida que desastres naturais acontecem, à medida que a insegurança alimentar aumenta, à medida que a migração humana se intensifica, lembramos das palavras de Jesus: “Neste mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo” (João 16.33). E é por causa dessa vitória que podemos viver nossa esperança radical amando a misericórdia, agindo com justiça e caminhando humildemente com Deus nos tempos difíceis.
Bethany Sollereder faz preleções sobre ciência e religião na Universidade de Edimburgo. Ela é especialista em teologia do sofrimento e escreveu Why Is There Suffering?: Pick Your Own Theological Expedition [Por que o sofrimento existe: escolha sua própria expedição teológica], o primeiro livro teológico do mundo do tipo “escolha sua própria aventura”.