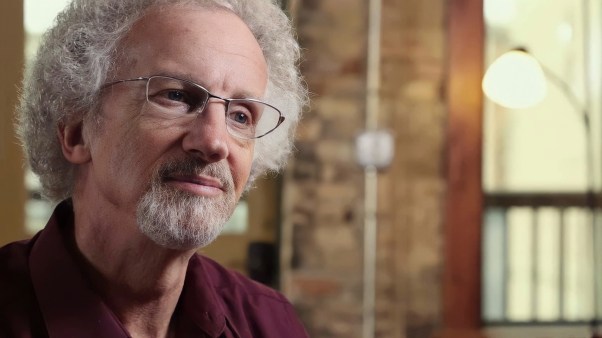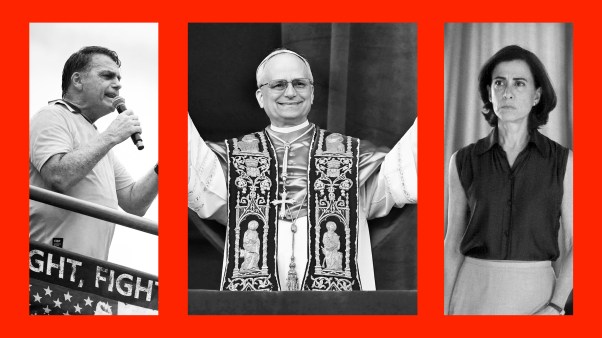Quando comecei a ler a Bíblia na adolescência, fiquei chocado a primeira vez que li o Apocalipse de João. Comecei a ler a Bíblia pelo Evangelho de João e não tinha ideia de que a Escritura, um livro com uma imagem de um Deus tão amoroso, poderia ter tantas cenas violentas e tantos seres monstruosos em seu último livro.
Então, descobri que a presença de monstros não é algo exclusivo do livro de Apocalipse. O leitor atento da Bíblia por certo já percebeu a quantidade de seres, no Antigo e no Novo Testamentos, que não correspondem às formas convencionais de seres humanos e animais que encontramos no mundo, no cotidiano.
A Bíblia faz referências a monstros marinhos, como o Leviatã, ou monstros terrestres, como o Beemote. O mundo celestial também é habitado por seres incomuns, como os serafins ou os querubins, sem falar dos seres híbridos, os “seres viventes”, que encontramos no Livro de Ezequiel.
No entanto, é na literatura apocalíptica que esses seres são mais frequentes e mais conhecidos. Como vemos, por exemplo, no livro de Daniel e no Apocalipse de João. A presença desses seres estranhos nos surpreende e nos faz perguntar: por que há tantos seres na Bíblia que não têm equivalentes no mundo real? Qual poderia ser o papel deles nas Escrituras?
A resposta a essas perguntas tem um valor significativo para quem lê as Escrituras, pois esses seres monstruosos potencialmente promovem atos violentos, alguns dos quais a serviço de Deus. Por causa de sua presença e de seus atos poderosos, os monstros devem ser encaixados em uma visão mais ampla da interpretação bíblica.
A interpretação bíblica historicamente tem lidado com esses seres excêntricos de várias maneiras. Uma delas foi interpretando-os de forma alegórica. Cada parte desses seres corresponderia a um elemento doutrinário ou moral. Essa foi a visão preferida das igrejas antiga e medieval.
Então, nos estudos modernos, tornou-se mais comum entender esses seres como metáforas de elementos históricos. Na verdade, os monstros da literatura apocalíptica judaica e cristã são formas de representar potências imperiais, como os Impérios Selêucida ou Romano.
No entanto, essa abordagem resolve o problema apenas superficialmente, restando a questão do por quê esses poderes são descritos de maneiras tão bizarras. A interpretação política dos monstros também não explica todos os monstros do Apocalipse, e muito menos a violência promovida por agentes divinos no fim dos tempos.
Mais recentemente, alguns intérpretes começaram a fazer novas perguntas sobre esses seres estranhos. E chegaram à conclusão de que não basta listar os monstros e reconhecer sua presença; para entendê-los é necessária uma abordagem adequada.
Eu defendo que os monstros são, fundamentalmente, criações culturais por meio das quais expressamos nossas tensões em relação à sociedade e a nós mesmos. Eles habitam a mitologia dos povos e as profundezas de nossa psiquê, emergindo em nossos sonhos. Portanto, uma experiência do sagrado também passa pela articulação dos monstros, tanto internos quanto cósmicos. Essa perspectiva tem uma consequência clara para a interpretação da Bíblia: à medida que a Escritura aborda os dramas essenciais da alma humana e da criação, ela também manifesta os atos dos monstros em todo o seu poder e ambiguidade.
A teoria da monstruosidade, que é como essa abordagem tem sido convencionalmente chamada, busca uma compreensão complexa da cultura formulando a seguinte proposição: é possível estudar uma cultura com base nos monstros que ela cria. Essa perspectiva começou a ser considerada na década de 1990, nos estudos culturais, e ganhou aplicações também na pesquisa literária. Vou me concentrar em três de suas ideias centrais.
A primeira é que as culturas frequentemente retratam como algo ameaçador, perigoso, desestabilizante, animalesco — isto é, como um monstro — tudo aquilo que percebem como externo a si mesmas. E fazem isso não só por meio de conceitos, mas também, e acima de tudo, por meio de imagens híbridas e grotescas.
Os seres nos limiares do mundo — pense nos povos exóticos ou nos seres imaginários que vivem fora do mundo conhecido — são o outro, e um outro ameaçador.
Nada disso é novidade. Afinal, sabemos muito bem que grupos humanos tendem a se definir com características positivas, “civilizadas”, atribuindo a pessoas de fora de seu grupo um caráter que é não só ameaçador, mas também desestabilizante. Estamos cientes dos efeitos devastadores dessa posição em sociedades multiculturais e multiétnicas como a nossa.
A novidade da teoria da monstruosidade é sua segunda ênfase, inspirada pela psicanálise: os monstros que identificamos como externos, na verdade, refletem rupturas e traumas internos. O que eu projeto no outro como monstruoso de alguma forma se refere a mim mesmo.
Não é de se espantar, diriam os teóricos da monstruosidade, que, na Inglaterra vitoriana do século 19, a literatura tenha começado a criar monstros. Confiantes na ciência e no progresso e ocupando uma posição-chave entre as potências imperiais, os britânicos enfrentavam ameaças que emergiam de dentro.
Pense no Conde Drácula, um vampiro, um morto-vivo do Leste, que visita Londres em busca de uma mulher que o liberte de sua solidão. Ou pense em Frankenstein, um monstro em quem a fantasia mais proibida e fascinante da ciência é realizada, criando vida por meio da usurpação do lugar de Deus.
Ao criar monstros, as pessoas apontam para algo ameaçador que está “lá fora”, mas também para um perigo que está “aqui”, dentro de si mesmas e de sua cultura.
O terceiro elemento da teoria da monstruosidade nos orienta a prestar atenção às formas dos monstros: os monstros são assustadores porque suas imagens são aberrações e, por serem assim, devem ser vistos e imaginados não apenas como meras alegorias. Afinal, essas imagens provocam reações emocionais. Os monstros são seres híbridos, malformados, gigantescos, grotescos. Essa é a maneira de a sociedade questionar o mundo e suas categorias consideradas normativas.
Volto à minha pergunta, agora focada no mundo bíblico: “Por que há tantos monstros na Bíblia?” Essa é uma questão delicada que afeta nossas crenças e sensibilidades. Afinal, sempre pensamos no Deus da Bíblia como um Pai amoroso e na história contada na Bíblia como a história da salvação.
O fato de agentes divinos se apresentarem como seres monstruosos e violentos é o ponto crítico da nossa reflexão. Sou da opinião de que essa questão, mesmo que não receba respostas rápidas e fáceis, deve estar na pauta de uma reflexão teológica crítica.
Afinal, o cristianismo, uma religião que deveria espalhar a mensagem do amor de Deus pela humanidade, também se manifestou como uma religiosidade de violência e ódio, promovendo guerras, escravidão, opressão e morte. Encarar os aspectos monstruosos que estão dentro, no interior de nossas tradições e especialmente na Bíblia é uma maneira cautelosa de lidarmos com esse potencial de destruição e de violência que coexiste ao lado do amor e da solidariedade.
Os monstros do Apocalipse de João oferecem à narrativa principal do cristianismo primitivo insights sobre o futuro do mundo governado pelo trono divino. O livro do Apocalipse fala sobre a manifestação do poder divino sobre o cosmo, e também sobre a sociedade e os poderes que a governam. Nesse sentido, o Apocalipse oferece uma narrativa total de uma ecologia radical. As pragas executadas pelos anjos afetam não só as pessoas, mas também as estrelas, as águas, as plantas e os impérios da Terra.
Nessa vindicação do sofrimento dos justos, todos os níveis do cosmo e todas as expectativas de poder são abalados. No entanto, a execução do juízo divino e o estabelecimento do reino de Deus não podem ocorrer nas categorias ultrapassadas da sociedade que ele está buscando suplantar. A afirmação “Estou fazendo novas todas as coisas” (Apocalipse 21.5) também se aplica à linguagem e às categorias usadas para narrar esse “fim dos tempos”. Portanto, nada no Apocalipse é narrado na linguagem cotidiana; tudo é apresentado pela primeira vez em sua profundidade, em uma revelação (apokalypsis) da realidade.
Os monstros são os agentes dessa narrativa. O opressor Império Romano é revelado, em todo seu poder demoníaco, nos monstros apresentados no capítulo 13, cuja força vem do dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres — outro monstro, que é apresentado no capítulo 12. Este dragão, por sua vez, se opõe à “mulher vestida do sol” (v. 1), trazendo caos e tentando devorar o filho dela.
O Império Romano, que se concebia como o garantidor de uma era de paz (a Pax Romana), é apresentado em termos de caos cósmico e demoníaco, desestabilizando a ordem mundial e desafiando o próprio Deus. Apresentar o poder opressor do Império Romano na forma de um monstro serve para revelar sua verdadeira identidade.
Mas o monstro descrito como algo externo também se refere ao que é interno. Deus e os anjos também são apresentados com características violentas e disruptivas. Na primeira visão do Apocalipse, Jesus aparece como o Filho do Homem apocalíptico — deslumbrante e exaltado, segurando estrelas em sua mão direita e carregando a chave para o Hades. Uma espada sai de sua boca. Esta figura poderosa do Cristo cósmico governa tanto o mundo celestial quanto o inferior.
Mas, no capítulo 5, em sua entronização, Jesus é apresentado como “o Leão da tribo de Judá” (v. 5) e depois como o Cordeiro que foi morto. Aqui, ele passa da imagem de um animal (que é vencedor) para a de outro (que é vítima), sem nenhuma referência à sua humanidade.
Essas formas de apresentar Cristo, ao mesmo tempo, como um ser cósmico e como uma vítima animal morta, que são tão distantes uma da outra, conectam Jesus com a experiência de humilhação e a esperança de exaltação de seus seguidores, os leitores do livro. Os seguidores de Cristo vivenciam o império como algo demoníaco e veem a si mesmos como vítimas vindicadas, embora nenhuma dessas visões use categorias situadas historicamente.
Somente a monstruosidade das imagens externas e internas permite que imaginem esse mundo de inversão de posições e de experiência radical do sagrado. Sem monstros, a linguagem do Apocalipse teria perdido todo o seu poder. A suspensão das categorias do senso comum é o que permite uma experiência religiosa plena, ainda que muitas vezes violenta.
Em um mundo de violência extrema e de violência interna, a violência sofrida e a violência imaginada (ou desejada) também devem ser visitadas. O leitor do livro de Apocalipse — e de toda a Bíblia — é convidado a uma experiência radical de Deus, na qual o leitor e suas maneiras de nomear o mundo não ocupam o centro.
Essa experiência desestabilizante, embora seja chocante e incômoda, tira o leitor do papel de intérprete poderoso. Ela desafia a ideia de controlar ou de ver o sagrado como algo inteiramente externo e objetivo. O encontro com Deus é uma experiência que nos inspira medo, temor — não um “temor” reverente e formal, mas uma experiência que o teólogo Rudolf Otto chamou de “mistério tremendo e fascinante”.
Há autores que insistem que a origem da religião — e no caso do judaísmo e do cristianismo não seria diferente — está em uma experiência do sagrado percebido como poderoso, disruptivo e violento. Nesse sentido, ler as Escrituras não é a reprodução de uma posição de poder equiparada a projetos ocidentais de cultura civilizadora.
A Bíblia, com seus animais fantásticos e seres monstruosos, nos leva a uma experiência de alteridade radical, que se reflete fora e dentro de nós, inserindo-nos em uma ecologia radical na qual Deus se manifesta desestabilizando categorias e criando novos mundos que antes eram inimagináveis.
Os monstros nos desnudam, empurrando-nos para além do conforto da interpretação centrada em nós mesmos, permitindo-nos uma experiência radical de Deus em meio ao drama de sua criação.
Paulo Nogueira é doutor em teologia, membro leigo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e professor de Ciências da Religião na Pontifícia Universidade Católica de Campinas.