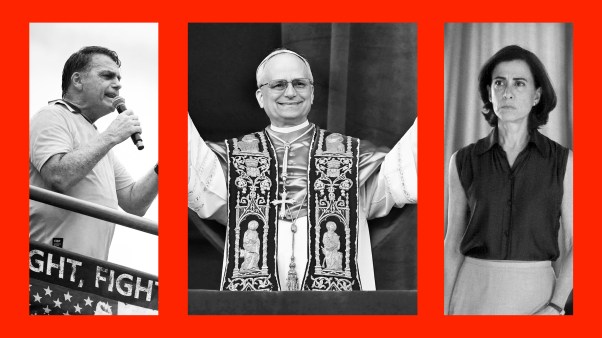Se você testemunhou recentemente algum caso de desprezo motivado por intolerância, um sintoma revelador da nossa sociedade cada vez mais polarizada, você pode ter se perguntado: “Por que não conseguimos viver bem uns com os outros? Se ao menos pudéssemos aprender a tolerar uns aos outros”. A tolerância é uma virtude cívica importante, mas pode não ser suficiente.
Provavelmente, todos nós já oramos por tolerância, enquanto dirigíamos para um daqueles encontros de família, nas festas de fim de ano, em que as divisões políticas são tão nítidas que só o que nos resta para falar é sobre futebol (e até com esse assunto devemos ser cuidadosos). No entanto, mesmo se conseguirmos chegar ao fim do encontro sem discutir com ninguém, podemos ainda assim voltar para casa com uma sensação de vazio, de tristeza. Sim, podemos ter conseguido tolerar nossos “inimigos”, mas nosso coração anseia por algo mais: por amor.
Quando nossos inimigos estão distantes, a questão de amá-los pode ser convenientemente ignorada. Mas quando o inimigo está do outro lado da mesa, na mesma reunião de trabalho ou em um projeto em grupo, a sabedoria e a necessidade contraculturais dos mandamentos de Jesus — ame seu inimigo, que é seu próximo (Mateus 5.43-44) — tornam-se visíveis.
Para obter ajuda na análise de instruções práticas sobre amar ao próximo, recorro ao apóstolo Paulo, nos capítulos finais de sua carta à igreja em Roma. Em geral, pensamos em Romanos como um tratado teológico com densa argumentação, embora o livro também seja — talvez até primordialmente — uma carta pastoral que busca reconciliar cristãos judeus e gentios.
Em Gálatas, Paulo insistiu: “Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher; pois todos são um em Cristo Jesus” (3.28). Aproximadamente uma década depois, essa afirmação ainda estava sendo posta à prova na igreja romana. Não se tratava tanto de um desafio à verdade essencial (Paulo não precisava mais argumentar contra a questão da circuncisão como uma exigência), mas a verdade do Evangelho estava sendo desafiada por uma miríade de pequenas queixas, que ameaçavam transformar próximos em inimigos.
Uma dessas queixas surgiu de diferenças culturais sobre alimentos compartilhados nas refeições comunitárias (Rm 14.1-3). O que estava em jogo parecia ser se as leis dietéticas judaicas deveriam ser observadas nas refeições comunitárias feitas dentro da igreja. Nos primeiros anos, antes de os judeus serem expulsos de Roma por Cláudio, em 41 d.C., a igreja cristã majoritariamente judaica teria visto essas regulamentações como normativas e até essenciais; contudo, elas foram se tornando irrelevantes à medida que a igreja se tornou mais gentia.
Muito mais do que preferência ou hábito, práticas alimentares — como as adotadas na circuncisão, no sábado, nos festivais e assim por diante — marcavam os judeus como o povo da aliança de Deus. Tais práticas delineavam identidade e limites, marcando quem fazia parte da comunidade e quem não fazia. Em uma situação tão polarizada, na qual as linhas entre os grupos são traçadas de forma tão nítida, a estratégia retórica de Paulo é confundi-las, substituindo os rótulos fraco e forte pelas palavras judeu e gentio.
Inicialmente, essa decisão parece passível de antagonizar ainda mais os dois lados, atribuindo a um deles um rótulo pejorativo em relação ao outro. No entanto, a genialidade da estratégia de Paulo reside em sua ambiguidade intencional: é bastante difícil determinar na comunidade quem é “fraco” e quem é “forte”. Mesmo hoje, não há consenso acadêmico sobre essa questão. Em ambos os casos, Paulo deixa espaço para indivíduos de ambos os grupos, cujas crenças e práticas não se alinham com a identidade de seu grupo maior.
A estratégia essencial do apóstolo é definir uma ética de boas-vindas, de acolhimento: “Portanto, acolham-se uns aos outros, assim como Cristo os acolheu, para a glória de Deus” (Romanos 15.7, NRSV). Aplicado de forma ampla à igreja como um todo, os “fortes” têm o dever de acolher os “fracos” (14.1) — “suportar [bastazein] as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos” (15.1).
Paulo não está pedindo mera tolerância, não está pedindo para suportar comportamentos indesejáveis. A tolerância só pode ser uma estratégia provisória para a manutenção da paz se estivermos caminhando para alcançar a reconciliação genuína. A exortação radical de Paulo é para “suportar” ou apoiar os fracos.
Como Paulo indicou anteriormente no argumento, esse suportar envolve uma mudança comportamental significativa para os fortes: “Portanto, deixemos de julgar (krinōmen) uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito (krinatē) de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão” (14.13, ênfase acrescentada. Veja também v. 14-15).
Esta frase faz um trocadilho sutil com duas formas diferentes do verbo “julgar” (krinō), de modo a dizer essencialmente “Não julguem uns aos outros, mas julguem as formas como vocês podem evitar fazer o outro tropeçar.” Em outras palavras, em vez de julgar os outros, devemos julgar a nós mesmos.
Embora ambos os lados no conflito sejam instados a acolherem uns aos outros, Paulo continua exortando os fortes a apoiarem os fracos, acomodando suas preferências alimentares — ele pede que mudem seu comportamento, mesmo que este seja justificado e correto, como ele admite.
O objetivo maior de Paulo é incutir um novo tipo de raciocínio moral, cujo modelo é o amor abnegado de Cristo. Assim como Cristo deu sua vida, os fortes devem abrir mão de suas preferências alimentares pelo bem dos fracos. É isso que significa, neste contexto específico, “andem em amor” (2João 1.6)
Por trás desse respeito pela consciência alheia está um reconhecimento adicional de que “o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo” (Romanos 14.17). O significado maior pertence ao reino de Deus, manifestado em sua igreja. Preservar esse bem último requer abrir mão de bens penúltimos — neste caso, abrir mão de comer o que se deseja comer.
Este argumento nos desafia a reconsiderar cuidadosamente vários valores estimados e hábitos arraigados em nossa sociedade: primeiro, nosso conceito de liberdade; segundo, nosso hábito de “pintar” nossos inimigos de forma genérica, sem procurar conhecer suas nuances específicas; e terceiro, nossa tendência de sacralizar a política.
Vejamos primeiro nosso conceito de liberdade. De acordo com John Stuart Mill, filósofo político seminal, a liberdade em uma sociedade democrática é concebida como autonomia pessoal. A menos que eu esteja causando dano físico ao meu vizinho ou à sua propriedade, devo ser livre para ir atrás de meus próprios gostos e interesses como (eu) achar melhor.
O chamado “princípio do dano”, elaborado por Mill, informa nossa noção fundacional de liberdade e de seus limites na sociedade democrática. Dificilmente precisaríamos acrescentar que a liberdade assim definida é percebida de forma generalizada como o bem maior em nossa cultura. Restringir a liberdade de alguém, em deferência aos escrúpulos religiosos de algum vizinho, constituiria para Mill — e suspeito que também para muitos de nós, hoje — uma afronta à própria noção de liberdade cívica.
A definição de liberdade do apóstolo Paulo é radicalmente diferente — devemos ser livres do poder escravizante do pecado, e o resultado final disso não é autonomia pessoal, mas sim justiça. A escolha, da forma como Paulo a vê, não está entre escravidão e liberdade, mas sim entre dois tipos diferentes de escravidão: “vocês foram libertos do pecado e tornaram‑se escravos da justiça.” (Romanos 6.18).
Quando Paulo mais tarde contrasta “comida” e “bebida” com “justiça, paz e alegria no Espírito Santo” (Romanos 14.17), ele está enfatizando que a liberdade não é simplesmente fazer o que queremos, mas sim viver um novo tipo de vida, na qual o Espírito nos liberta para amar o próximo.
Em contraste, a autonomia pessoal — o desejo sem limites e restringido apenas pelo dano contra os outros — leva à polarização. Quando a autonomia é vista como o bem maior, desejos conflitantes criam uma divisão. As pessoas formam tribos para proteger seus interesses, buscando poder por meio do governo da maioria. E em um sistema no qual (ao menos em termos ideais) a maioria vence, a vantagem óbvia é estar do lado “forte”, e não do lado “fraco”.
Mas a ideia do apóstolo Paulo de liberdade como justiça, por meio do amor ao próximo, desafia essa lógica. A liberdade do controle do pecado e a entrada no reino de justiça, paz e alegria de Deus promovem a unidade, e não a divisão. A visão de Paulo é comunitária — judeus e gentios adorando a Deus juntos (Romanos 15.7-13) — algo que a autonomia polarizadora não é capaz de sustentar.
Segundo, outro hábito arraigado em nossa sociedade é que frequentemente caracterizamos mal nossos inimigos, criando estereótipos monolíticos e imprecisos: “Se você acredita em X, então, você também deve acreditar em Y”. Alan Jacobs caracteriza essa simplificação excessiva e injusta como uma tentativa de explicar o oponente “em outras palavras”. Em vez de nos esforçar para entender as nuances da visão do nosso oponente, reduzimos sua visão a frases de efeito nada lisonjeiras, como: “Em outras palavras, meu oponente acha que devemos prejudicar os vulneráveis”.
Em contrapartida, a visão de liberdade de Paulo nos chama a ver nossos inimigos como nós mesmos. Sua estratégia em Romanos 14–15 confunde as linhas entre grupos conflitantes, contrariando nossa tendência de deturpar nossos oponentes e suas motivações. Ele exorta ambos os lados a agirem segundo uma devoção encarnada a Cristo, quer guardem certos dias ou não, quer escolham comer ou se abster de comer (Romanos 14.5-6).
Essa abordagem não é retórica, mas sim enraizada em um valor fundamental: pertencemos ao Senhor, na vida e na morte (Romanos 14.7-8). Paulo equipara os crentes a servos domésticos que não devem julgar uns aos outros, pois todos servimos ao mesmo senhor (14.4). Essa mudança de perspectiva encoraja a ver os inimigos como servos companheiros, o que é um passo crucial para amar o próximo como a si mesmo.
Terceiro, a ética de Paulo corrige nosso hábito de sacralizar a política — nosso hábito arrogante de supor que Deus pensa e julga como nós e que a sua vontade está alinhada com as nossas agendas pessoais. Quando sacralizamos nossas agendas políticas, efetivamente domesticamos Deus e invocamos sua autoridade para julgar nossos próximos.
A escritora Anne Lamott alerta contra assumir que Deus odeia as mesmas pessoas que nós odiamos, uma mentalidade que alimenta a violência, como o slogan da Primeira Cruzada: Deus vult (“Deus quer!”). Este é o perigo de identificar nossos bens penúltimos como o bem último, supremo de Deus — e, ainda assim, nós os defendemos com tanta frequência como tal.
Paulo enfatiza que Deus está acima de nossas divisões e que todos nós, igualmente, enfrentamos o julgamento de Deus: “Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus” (Romanos 14.12). Nossa responsabilidade final diante de Deus não pode deixar de corrigir esse nosso impulso de usar o Criador como arma e de condenar nossos inimigos com base em nossos próprios padrões (imperfeitos) de julgamento.
Julien C. H. Smith é professor de humanidades e teologia no Christ College, a faculdade de honras da Valparaiso University. Seu livro mais recente é Paul and the Good Life: Transformation and Citizenship in the Commonwealth of God [Paulo e a boa vida: Transformação e Cidadania na Comunidade de Deus].