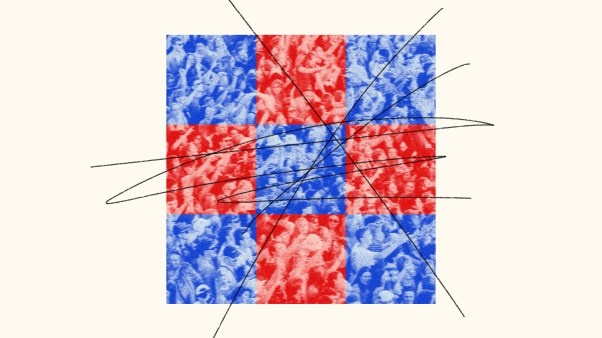Não há nada mais assustador do que o som do obturador da câmera no novo filme Guerra Civil.
Distribuído pela A24, produtora que está por trás de lançamentos como Everything Everywhere All at Once [Tudo em todo lugar ao mesmo tempo] e Past Lives [Vidas Passadas], o filme mostra os remanescentes de um governo dos Estados Unidos lutando contra as Forças Ocidentais, resultantes de uma aliança entre o Texas e a Califórnia. Se você está procurando motivos — por que essas facções? Por que agora? — não encontrará nenhuma resposta. O filme é frustrantemente opaco no que diz respeito à sua idealização, embora possamos formular hipóteses com base em alguns comentários casuais. (O presidente, não identificado, que é interpretado por Nick Offerman, está entrando em seu terceiro mandato e não se intimida em usar ataques aéreos contra cidadãos americanos). Mesmo assim, a Califórnia cooperando com o Texas parece algo improvável.
Para o escritor e diretor Alex Garland, nossa incredulidade é o ponto principal. “Acho interessante que as pessoas digam: ‘Esses dois estados jamais poderiam se juntar, em circunstância nenhuma’. Em circunstância nenhuma? Nenhuma mesmo? Tem certeza?”, disse ele ao The Atlantic. Quando pede para acatarmos sua premissa, Garland nos força, como espectadores, a reparar nas divisões ideológicas que normalizamos. No fim das contas, o porquê não importa tanto assim. A distopia, não importa como venha à tona, continua sendo distopia.
O que fica claro, porém, é que a guerra brinda os jornalistas com uma oportunidade, da qual a fotojornalista Lee (Kirsten Dunst); seu colega da Reuters, Joel (Wagner Moura), e seu mentor, o repórter do New York Times, Sammy (Stephen McKinley Henderson) tiram o máximo proveito. A cobertura que eles fazem das atrocidades molda nossa experiência desse futuro imaginário. Muitos daqueles sons arrepiantes do obturador da câmera vêm de Lee, à medida que ela documenta cenas verdadeiramente terríveis de conflitos domésticos, com eficiência implacável e técnica impecável. É chocante ver soldados militares sendo executados ou um civil sendo incendiado em fotos com ISO e abertura perfeitos.
Sempre em busca de um furo de reportagem, os três decidem embarcar em uma viagem de carro de Nova York a Washington, onde Lee espera fotografar o presidente e Joel espera entrevistá-lo. “Chegaremos lá antes de todo mundo”, diz Lee. Joel concorda: “Entrevistá-lo é a única história que resta”. No último minuto, Jessie (Cailee Spaeny), uma jovem fotojornalista que idolatra Lee, se une aos dois. Juntos, eles embarcam em um tour pelo país em ruínas.
A cada clique, as fotógrafas ficam mais desconectadas da guerra que estão documentando. O cinegrafista Rob Hardy e o editor Jake Roberts usam tomadas recorrentes dos desdobramentos posteriores de cada foto, para obter um efeito aterrorizante. Quando Lee ou Jessie abaixam sua câmera [do rosto, depois de tirarem uma foto], é como se tirassem uma máscara.
Quer ela tenha capturado uma imagem de um shopping center abandonado ou de um soldado sangrando, a postura desapaixonada de Lee é de arrepiar. Ela já viu tantas atrocidades que, seja por autopreservação ou por excesso de exposição, ficou insensível aos horrores à sua volta.
A jovem Jessie, no entanto, é diferente. Sempre que acaba de tirar uma foto, pelo menos no início, o público vê o impacto que o registro tem sobre ela. É uma tragédia quando a empatia de Jessie dá lugar ao distanciamento. A cada clique da câmera, sua fisionomia fica menos assustada, mais estoica.
Guerra Civil é uma ode ao trabalho angustiante dos jornalistas de guerra. Mas o filme também se opõe à noção de que a maior virtude que um jornalista pode cultivar é a capacidade de permanecer imperturbável. Embora a objetividade seja imprescindível, ela não deve ser um distintivo de honra, para quando somos capazes de cobrir o pior do que acontece no mundo e não nos comovermos.
Em uma sequência dolorosa, depois que os jornalistas testemunham um ato de violência, Lee diz a uma Jessie visivelmente abalada: “Nós registramos [a cena] para que outras pessoas questionem”. O investimento de Lee na história termina após o clique da câmera; ela deixa para o público a tarefa de explorar questões superlativas sobre dor e propósito. “Você quer ser jornalista? Esse é o trabalho”, ela repreende Jessie. Não se pode negar o empenho dos jornalistas em capturar a verdade do que veem. Mas, ainda assim, é perturbador quando eles fazem isso sem a menor emoção.
Os salmos de Davi adotam uma abordagem oposta a essa que é moldada pelo filme Guerra Civil — neles, todos lamentam, regozijam-se e ficam irados, quando interpretam o mundo ao seu redor.
Em David in Distress: His Portrait Through the Historical Psalms [Davi angustiado: um retrato através dos Salmos históricos], a acadêmica Vivian L. Johnson identifica certos cânticos que têm correlação direta com o que é abordado em textos como 1 e 2Samuel. Um deles é o texto de Salmos 51, escrito após o estupro de Bete-Seba por Davi e o assassinato do marido dela, Urias, conforme registrado em 2Samuel 11.
Enquanto a história em Samuel fornece um relato objetivo do que aconteceu, o salmo oferece uma oportunidade de dar corpo à experiência interior e emocional de Davi. Como Johnson escreve: “Raramente as narrativas de Samuel revelam a contemplação particular de Davi ou relatam seus gestos de contrição; na verdade, os livros de Samuel em geral mostram pouca reserva na exposição de seus atos mais chocantes”. Ela argumenta que o Salmo 51 — no qual Davi detalha seu remorso de forma mais plena do que na confissão de uma linha, “Pequei contra o Senhor”, em 2Samuel, — “fornece ao leitor uma versão elaborada e piedosa do que Davi pode ter dito, depois de reconhecer a gravidade de suas ações, quando assassinou o marido de sua amante”.
O papel do salmista é diferente do papel do jornalista. Mas o que vemos em Guerra Civil nos lembra, tal como as Escrituras, do quão vulneráveis podemos ser diante das dificuldades do mundo. Para cada atrocidade registrada há um jornalista que se esforça para deixar um testemunho.
Veja, por exemplo, uma galeria da Rolling Stone com imagens de fotojornalistas, tiradas em Gaza. As fotos são difíceis de olhar e são ainda mais pungentes agora, que o número de mortos no local ultrapassou 33.000 pessoas. A apresentação dessas fotos não é descuidada nem descomedida; pelo contrário, cada foto é acompanhada de uma legenda que a contextualiza. O fotojornalista Ahmed Zakot assim descreve Gaza, em 9 de outubro de 2023: “Tirei esta foto do 19º andar de um arranha-céu em Gaza. Em meus 25 anos de carreira como fotógrafo, nunca senti tanto medo e angústia. Senti como se estivesse filmando uma cena de um filme, precisei lembrar a mim mesmo de que tudo isso é bem real.”
Eu posso ser como Lee. Quando vejo fotos de arquivo históricos ou até mesmo imagens de atrocidades atuais e distantes de mim, sinto-me tentado a me resguardar disso, mantendo tudo à distância. Não é de admirar que isso aconteça em nosso mundo on-line, de superexposição, no qual imagens e testemunhos horrendos estão a apenas um toque para atualização da nossa timeline.
Mas, embora essa dissociação possa ser compreensível, ela não é desejável. Isso vale não só para a dor, mas também para a alegria. Está no discurso de Jó para Deus: ira plenamente expressa, em vez de circunstâncias meramente aceitas. Mas também está no primeiro capítulo de Lucas, que abre espaço para o cântico de Maria.
Enquanto outros evangelhos são rápidos em narrar os eventos do nascimento de Jesus, Lucas faz uma pausa para dar uma visão do coração de Maria. O espírito dela “se alegra em Deus, meu Salvador”; ela pode confiar nas promessas anunciadas pelo anjo Gabriel, pois Deus demonstrou sua fidelidade “como dissera aos nossos antepassados”. Mesmo ao registrar os fatos, as Escrituras abrem espaço para o lamento, a celebração e o louvor, não para o estoicismo.
O filme Guerra Civil nos faz um lembrete semelhante. O que importa não é apenas o que testemunhamos, mas como testemunhamos. Mesmo quando lembramos a nós mesmos de que “tudo isso é bem real”, também nos lembramos de um Deus amoroso que está presente nessa realidade. Que possamos vigiar nossas almas, ao olharmos o sofrimento de perto. Que possamos também permitir que nosso coração fique partido.
Zachary Lee é gerente editorial do Center for Public Justice [Centro para Justiça Pública]. Ele escreve sobre mídia, fé, tecnologia e meio ambiente.