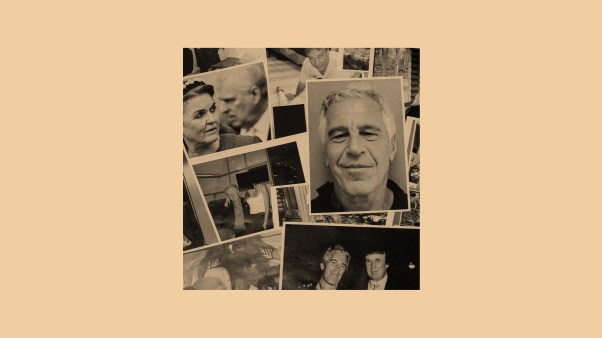Este artigo foi adaptado da newsletter de Russell Moore. Para receber a newsletter em inglês, inscreva-se aqui.
Por muito tempo, temi que meus colegas cristãos evangélicos americanos estivessem cedendo à terceira tentação de Cristo: sacrificar a integridade pela conquista do poder. No entanto, no ano passado, comecei a me perguntar se não estamos caindo em uma tentação totalmente diferente — aquela que menos entendemos e à qual menos aprendemos a resistir.
Os Evangelhos nos dizem que, logo após o batismo de Jesus no Jordão, o Espírito o dirigiu ao deserto, onde o Diabo colocou diante dele três tentações (Mateus 4.1-11; Lucas 4.1-13). Uma tentação foi transformar pedras em pão — para que Jesus, sob a direção do Diabo, satisfizesse seus próprios apetites.
Esta foi, evidentemente, a tentação primordial da humanidade (Gênesis 3.1-3). Ela é fácil de entender, pois todos nós lutamos com nossos apetites — apetites por comida, por sexo, por bebida — de maneiras que podem torná-los extremados.
A outra tentação era que o Diabo daria a Jesus “todos os reinos do mundo e o seu esplendor” (Mateus 4.8), desde que Jesus se tornasse um satanista momentâneo. (Alerta de spoiler: Jesus rejeitou esta oferta.)
Novamente, a maioria de nós é capaz de entender isso, pois quase todo mundo é tentado em algum momento a trocar princípios por poder. Para uns poucos, esse poder é uma posição na Casa Branca; porém, para muitos de nós, é simplesmente poder dar a última palavra no jantar da família, em casa, ou conseguir sentar no melhor lugar da mesa de reuniões, no trabalho.
Essa tentação ainda está em ação e transcende quase todos os limites tribais. Formas de marxismo cristianizado muitas vezes cedem a essa tentação, substituindo um evangelho de arrependimento e fé por meramente subjugar estruturas sociais opressoras. O nacionalismo cristão faz a mesma coisa — substituindo a fé do novo nascimento pelo cristianismo cultural do tipo sangue e solo.
Mesmo assim, passei a acreditar que a maior tentação que enfrentamos agora pode ser aquela que parece estar mais distante de nós.
É a segunda tentação no relato de Mateus e a última no de Lucas. O Diabo levou Jesus a Jerusalém “e o fez ficar no ponto mais alto do templo. ‘Se tu és o Filho de Deus’, disse ele, ‘atira-te daqui’” (Lucas 4.9). Satanás tinha até um versículo bíblico para acompanhar essa tentação — uma passagem de Salmos 91: “Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos; com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra” (Lucas 4.10-11; Salmos 91.11-12).
Alguns de vocês que estão lendo isso realmente resistiram à tentação de se atirar de lugares altos. Muitos outros entre vocês nunca chegaram nem mesmo a cogitar isso. No entanto, em ambos os casos, vocês provavelmente nunca foram tentados a fazê-lo pelo mesmo motivo que Jesus foi: para forçar um sinal visível de que ele era, de fato, “o Filho de Deus”.
Como sempre, Jesus reconheceu o que estava acontecendo, é claro. E, em resposta, ele citou uma passagem de Deuteronômio 6.16, que diz na íntegra: “Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá.” A que este versículo se refere?
O lugar se chamava “Massá e Meribá”, segundo a Bíblia nos diz, “porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: ‘O Senhor está entre nós, ou não?’” (Êxodo 17.7).
O povo de Israel — o mesmo que Deus havia libertado do Egito com as águas do mar que se abriram e com uma coluna de fogo — começou a debater com uma seca, pois se perguntava se Deus era realmente quem dizia ser: um Deus que ia adiante e atrás deles. Eles perguntaram a Moisés: “Por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos” (v. 3). Eles perderam a confiança e queriam um sinal.
Nos dias de Jesus, o templo era mais do que apenas um prédio alto. Era o lugar em que Deus havia prometido habitar. O Ungido fazer a pergunta “O Senhor está entre nós, ou não?”, no templo, teria sido de fato uma pergunta e tanto.
Se Jesus tivesse se atirado do templo, os anjos — talvez até mesmo doze legiões deles — provavelmente o teriam resgatado. Jesus teria verificado, de forma tangível, em sua humanidade, o que Deus lhe disse nas águas do Jordão: “Tu és o meu Filho amado; em ti me agrado” (Lucas 3.22).
Ainda mais do que isso, as multidões lá embaixo teriam visto isso acontecer. Isso teria vindicado publicamente Jesus perante o próprio povo da cidade na qual, mais tarde, ele seria crucificado. Ninguém ousaria sugerir que ele estava possuído por demônios, que era um lunático, um insurgente enrustido ou um colaborador secreto de Roma. Ele teria provado ser o Ungido de Deus.
Jesus teria forçado um sinal. E Jesus chamou isso de pecado.
Em 2010, o cientista político James Davison Hunter identificou que a “característica distintiva” da psicologia política atual é o que Friedrich Nietzsche chamou de “ressentimento”. Embora inclua ressentimento, escreveu Hunter, vai além disso, de modo a envolver “uma combinação de raiva, inveja, ódio, fúria e vingança como motivação da ação política”.
O tempo provou que Hunter estava certo. Muito do que se passa por “ação política” ou mesmo apenas por “engajamento cultural” tem a ver, na verdade, com um sentimento de lesão — mais especificamente, um sentimento de humilhação: “Você pensa que é melhor do que eu, e vou provar que você está errado”.
Queremos ser justificados — em público. Não queremos só vencer; queremos “trucidar” quem nos maltratou ou zombou de nós. Queremos ser respeitados, ser reafirmados, se não por outro motivo, ao menos para crescermos em número e em poder político.
A maior parte do restante do mundo consegue enxergar isso como aquilo que de fato é: falta de confiança. Queremos provar que estamos certos porque não nos lembramos de quem somos nem por que estamos aqui.
Todos nós já ouvimos falar do famoso astro do rock que se exalta com o garçom de um restaurante ou com o segurança de uma boate, dizendo com raiva: “Você não sabe quem eu sou?” A ira por trás dessa pergunta geralmente vem do medo que o astro de rock sente de que a resposta seja: “Não sei; quem é você?”
Ao se referir aos incidentes em Massá e Meribá, Deus disse, por meio do salmista, que os israelitas “me puseram à prova, embora tivessem visto a minha obra” (Salmos 95.9, ESV). Eles se esqueceram de quem eram.
Jesus não agiu assim. Ele acreditava que era exatamente quem seu Pai disse que era: o Filho amado de Deus. Assim, ele não precisava clamar pela satisfação imediata de seus apetites; seu Pai antes já havia alimentado com maná e o faria novamente. Ele não precisava buscar poder imediato sobre as nações; ele não receberia poder no lugar da humilhação, mas sim por meio dela (Filipenses 2.5-11).
Quando esquecemos a história que a Bíblia nos conta — aquela em que ela nos inclui — começamos a ver o nosso público como qualquer turba ou homem forte que nos proteja ou respeite. Quando nos esquecemos do tribunal de Cristo, queremos um tribunal agora. Queremos provar que estamos certos agora.
Deus provaria a unção de Jesus não pela vindicação, mas pela ressurreição (Romanos 1.3-4). Mas mesmo assim, Jesus não precisava provar a si mesmo.
Como aponta Richard Hays, estudioso do Novo Testamento, o Cristo ressurreto “não apareceu no Templo para castigar seus oponentes; ele não apareceu a Pilatos nem a César, em Roma. As aparições da Ressurreição não foram algo como “e agora, você ainda se acha melhor do que eu?”, perante aqueles que não acreditaram em Jesus ou que não o respeitaram. Em vez disso, ele apareceu a seus seguidores — às mulheres no sepulcro, aos homens nos barcos, ao pequeno rebanho reunido na montanha.
Mesmo quando o vacilante Tomé exigiu ver as feridas da crucificação, e Jesus graciosamente o atendeu, o pequeno grupo que viraria o mundo de cabeça para baixo deixou o local não para provar que estavam certos, mas para dar testemunho de algo real — de Alguém vivo. Suas palavras não foram “O Senhor está ou não entre nós?” mas sim “Meu Senhor e meu Deus!” (João 20.28).
E se fizéssemos o mesmo? Que tal se fôssemos uma igreja tão confiante em nossa própria identidade em Cristo que, por fim, não tivéssemos nada a provar, mas sim algo a dar — vida e descanso, paz e alegria?
Russell Moore é o editor-chefe da Christianity Today e lidera seu Projeto de Teologia Pública.
–